Filmes para rever neste Inverno gélido
Expiação -Volver - As paixões de Júlia - Tabu - Aquele querido mês de Agosto - Guia para um Final Feliz - A Cor Purpura - "Amour" Pelas Ruas da Amargura - Como Água para Chocolate - Paris, Texas, - Amália Rodrigues O filme - Taxi Drive - O Segredo de Brokeback Mountain - Um Filme Falado - Psicose - Esplendor na Relva - O Paciente Inglês - Beleza Americana - Estado de Guerra - Gritos e Sussuros - O que dizem os seus Olhos - Mel - Underground /Mentiras de Guerra - Realizar o Impossível - Vale Abrão - Interstellar - O Capitão - O Homem que viu o Infinito - 8/5 - Marcado pela Promessa - Assim Nasce uma Estrela
Nestes dias chuvosos e gélidos, no conforto de uma lareira é reconfortante rever alguns filmes, hoje, apeteceu-me rever este "Expiação", posso dizer que é uma adaptação perfeita do livro.
Expiação ou a Historia de uma Mentira é um filme extraordinariamente belo. Não é um filme do todo fácil, requer alguma atenção.
Uma
adaptação do romance de Ian McEwan pela equipa de "Orgulho e
Preconceito", "Expiação" foi nomeado para sete Globos de Ouro,
tendo arrebatado os prémios de melhor filme e banda sonora original."
Briony Tallis é uma menina de 13 anos na Inglaterra de 1935.
Vive confortavelmente numa mansão vitoriana. A pequena Briony prepara uma peça de teatro para ser
apresentada em homenagem a chegada do irmão, Leon Tallis. Enquanto se esforça
para terminar a peça e conseguir a atenção dos convidados da família os gêmeos
Pierrot e Jackson, mais a irmã deles, Lola Quincey para ensaiá-la, Briony
descobre um possível jogo de atração entre a sua irmã Cecilia e o filho do
antigo empregado da família, Robbie Turner. Apaixonada por Robbie, Briony
acusa-o injustamente de abusar sexualmente de Lola, levando-o a prisão e mais
tarde a alistar-se no exército britânico para lutar na 2ª Guerra Mundial como
alternativa ao cárcere. Já em plena guerra, Robbie reencontra Cecilia, que
agora é enfermeira, e os dois trocam promessas de amor eterno. As constantes
permutas temporais, uma grande trilha sonora aliada ao grande roteiro e o fim
inesperado fizeram deste filme o vencedor do globo de ouro para melhor filme
dramático 2008.
O filme passa-se num elegante apartamento parisiense, daqueles em que as poltronas já estão desbotadas e moldadas aos corpos dos donos. E os quadros não podem ser removidos porque deixariam inevitavelmente a marca da sua presença nas paredes, como uma sombra invertida. E livros amarelados nas estantes, discos manuseados, e um piano de cauda, disposto na zona mais luminosa da sala.
Não, o filme passa-se num laboratório, atrás de uma cortina de vidro, onde Michael Haneke disseca, com a frieza de um bisturi, com uma noção de ritmo absolutamente perfeita (arrastado como as passos dos atores octogenários), a crónica metódica das devastações e das injúrias da idade. E prega a prega, ruga a ruga, a meticulosa incisão de Haneke vai fazendo a vivissecção sombria das várias etapas da debilidade do envelhecimento: a paralisia, a demência, a incontinência, a afasia, as fraldas, a alimentação forçada e os cremes para as escaras na mesinha de cabeceira. E destas incisões não se derrama um pingo de sangue, não se solta uma lágrima, não se verte um mililitro de sentimentalismo. É a vida, é a morte.
Não, o filme passa-se num mausoléu egípcio. Dessas tumbas que estão seladas há séculos, mas que ainda mantém os pertences e sombras da vida passada, as joias, as estatuetas, os bálsamos, os gatos embalsamados. Porque os possuidores de todas estas materialidades já estão em estado imaterial, mumificados no seu imobilismo entaipado, com pele ressequida, mas mortos- embora ainda não o saibam.
Aliás, a primeira cena remove-nos qualquer suspense dramático, e logo transmite esta sensação tumular, e há uma baforada de ar fétido, que num desassombro se lança à cara de quem ousou quebrar o "descanso em paz", e removeu a lápide do jazigo. São os bombeiros a tapar o nariz, quando arrombam a porta do apartamento, e vem-lhes o cheiro a morte. E encontram uma velha mulher, lívidez de cadáver, numa cama, com uma aura de flores dispostas como uma natureza morta.
A mesma mulher que veremos após o genérico, com o marido, na plateia de um recital de piano. Schubert. Haneke tem o cuidado de nunca enquadrar o pianista. Apenas o público. Porque o que vamos ver a seguir é um filme sobre a tragédia da condição humana. A tragédia de nos sabermos mortais. O realizador austríaco, que com Amor, bisa a Palma de Ouro em Cannes (depois de Laço Branco, 2010), e conquista os galardões máximos dos Prémios de Cinema Europeu, e constará muito provavelmente na listagem de melhores filmes estrangeiros nos óscares (e talvez até noutras categorias), dirige a câmara para onde normalmente os nossos olhares costumam ser desviados. Especialista em emoções extremadas, nas origens ocultas de uma violência que germina no subsolo como raízes insidiosas, costuma dizer que os seus filmes são mais fáceis de realizar do que de assistir. Amor, é particularmente duro. Porque não há culpas, a quem se possa atribuir, por estas indignidades do envelhecimento. As ignomínias de se ir perdendo as capacidades físicas e cognitivas. O ultraje de se envelhecer lentamente - como uma tortura vagarosa. E isso dói. E é a última palavra, que num desempenho dilacerante, a atriz Emmanuelle Riva ( a adolescente de Hiroshima, Meu Amor, de Alain Resnais, 1959, agora com 85 anos) pronuncia : dói. Mesmo tendo uma vida confortável, sem problemas assistenciais, sem a solidão gélida de um hospital, sem os falsos consolos de uma qualquer religião, dói imenso. E o marido, Jean-Louis Trintignant, assiste, gradualmente, etapa a etapa, aos últimos laivos de vida da mulher, como se estivessem a ser engolidos pelo buracos de um ralo. No fim de um casamento voltam a ser só dois, como no princípio. Não há nada de romântico em viver com quem se ama até ao fim dos seus dias. Só agonia e dor.
Como em todos os filmes de Haneke, há sempre um acontecimento disruptivo que não é nada, ou pode não ser nada, mas que sempre nos abre uma pequena, e muito subtil, fresta para a inquietação. Depois do recital, o idoso casal, mas intelectualmente requintados e melómanos - e é interessante esta vizinhança entre a música tão sublime e a decadência tão humilhante- dirige-se para casa de autocarro (são as únicas duas cenas passadas fora do apartamento ou do mausoléu - como se quiser). Quando tentam entrar em casa apercebem-se que a fechadura foi forçada. O episódio não tem qualquer sequência no filme, há conversas sobre contactar o serralheiro, mas pouco mais, um detalhe aparentemente sem relevância. Como se isso fosse possível em Haneke, um maníaco-meticuloso, que estuda as suas cenas e guiões até ao mais ínfimo pormenor, acusado de fazer dos atores marionetas e levá-los a fazer exactamente o que pretende, até se lhes arrepiarem os nervos. Quem forçara a porta nessa noite era a morte, mas só no final do filme fazemos o rewind do sucedido e disso nos damos conta.
Segue-se uma ligeira inquietude nocturna, mas também não é nada. Nunca é nada, mas afinal é. Durante o pequen-almoço, o casal retoma os seus rituais de sempre, e por uns momentos, a face da mulher fica cristalizada no tempo, sem nada ver ou ouvir, cara serena e inerte, como uma máscara mortuária. A perplexidade do marido, que abre a torneira da cozinha, tenta passar-lhe um guardanapo molhado pela testa, mas nada a resgata desta evasão de si própria. O homem vai pelo corredor, talvez telefonar, pedir ajuda. Mas o ruído da água a correr cessa (todo o filme está preenchido com pequenos ruídos, excepto quando entra a música que eles próprios, professores de música controlam). Quando o marido volta à cozinha, a mulher regressara ao seu estado normal, queixa-se de que ele deixou a torneira aberta. Tivera um pequeno AVC e começa aqui o descarrilar da dignidade humana. Segue-se uma paralisação de um dos lados do corpo, a cadeira de rodas, a cama articulada, os cuidados das enfermeiras ao domicílio que lhe fazem a higiene pessoal. E, como já tinha feito em Laço Branco, em que filma de uma forma muito pouco mística o cadáver de uma camponesa, da cintura para baixo, Haneke foca a lástima de um corpo flácido de velha mulher, na banheira: "dói!".
Talvez a prova de amor deste marido seja o oposto do que Haneke nos força, algo sadicamente, a assistir. Ele poupa a mulher a todos os olhares devassos, que testemunhem a sua diminuição. Ele tenta evitar que a própria filha (Isabelle Huppert) assista ao espectáculo da decadência da mãe. Vai cerrando sobre ambos a lápide do túmulo. Todos são intrusos - excepto um inofensivo casal de porteiros de origem portuguesa (a mulher é Rita Blaco, ver caixa). Até o pombo que inadvertidamente lhe entra pela janela, como os pombos costumam fazer nos edifícios que já não são habitados - outro acontecimento aparentemente irrelevante à Haneke, outro prenúncio de morte. E este out-sider alado passeia-se pela divisão, sem mostrar temor, com a desenvoltura de quem já tem a legitimidade de ocupar aquele espaço. Há conflitos com a filha, há conflitos com a enfermeira, mas o grande conflito é, na realidade com a morte. E se nos restantes filmes de Haneke, este retrata a violência de um passado culposo ( Código Desconhecido, 2000), ou da explosão da ira e da xenofobia (Nada a Esconder, 2005), ou da auto-agressão nos recantos mais sórdidos da intimidade de cada um (A Pianista, 2001), ou a mais niilista e desonerada das tiranias (Funny Games, 1997 e 2007), ou a prepotência e brutalidade sádica infligida às crianças, um prefácio do nazismo, que há de ser devolvido á sociedade nos anos 30, e portanto não se pergunte Warum? ( Laço Branco), em Amor a violência chega da natureza humana contra nós próprios. E ainda assim, mesmo não havendo hipótese de redenção e caterse nesta tragédia humana, nós continuamos a questionar Warum? Ou Pourquoi? Há muitos filmes sobre o envelhecimento, mas nenhum tão honestamente assustador, sem arestas suavizadoras, sobre o processo de declínio em curso. Sobre a violência de algo que não podemos ver. Nem conter. É gritante, é brutal. É a morte, é a vida.

Tita, a filha mais nova de uma matriarca não pode se casar para cuidar da mãe até a sua morte. Ao crescer, Tita se apaixona por Pedro Muzquiz, que corresponde e quer casar com ela, mas a mãe da moça proíbe o casamento, e sugere que ele se case com Rosaura, a irmã dois anos mais velha de Tita. O rapaz aceita, pois esta é a única maneira de se manter perto de Tita. Logo no início do filme, uma fala descreve o quanto era carregada de significados a comida preparada por Tita: "O ruim de chorar quando se pica cebola não é o fato de chorar, e sim que, às vezes, não se consegue parar...". Essa fala explicita uma profunda entrega ao ato de cozinhar: o envolvimento de Tita era tão intenso, que emoções de toda ordem podiam ser acionadas pelo simples ato de cortar cebolas.
David O' Russel tem um percurso curioso- e até interessante. Pena ser em sentido descendente, embora nem nesta comédia romântica desça abaixo do nível de água. A um filme de guerra híbrido e frenético (o extraordinário Três Reis, 1999), seguiu-se o The Fighter (com um daqueles papéis inesquecíveis de Christian Bale - que lhe valeu um óscar-, e uma excelente caracterização de personagens) e agora aparece num registo mais levezinho, mas não imersível, ao juntar como par romântico Bradley Cooper (conhecido pelas sucessivas Ressacas) e Jennifer Lawrence (umas das mais jovens atrizes a ser nomeada, por Winter' s Bone, em 2011). Ao casal junta-se o grande Robert De Niro que, ultimamente, se tem especializado em papéis irrisórios, de pai e sogro. Os diálogos são bons e o registo "sad-comic" dos atores funciona (a maior surpresa é Cooper), a par com uma das músicas mais kitsh, em versão Stevie Wonder, que ganha aqui também um acento cómico (Ma Cherie Amour), mesmo num guião resvaladiço, e até previsível. O facto de as personagens terem "um parafuso a menos", ou "não jogarem com o baralho todo" (utilizando as expressões da gíria), tanto os que estão no manicómico, como os que estão fora, confere-lhes estranhamente um estatuto de normalidade - ou não será tão estranho quanto isso, enfim... Há uma espécie de disputa de loucuras, um atira com o seu distúrbio obsessivo-compulsivo, o outro joga com a bipolaridade, outra com um trauma ninfomaníaco, e vários outros com stress, manias, ataques de nervos... Todo o desenrolar do filme conflui para uma situação climática, que podia ter a mesma força (um embaraço muito divertido e catártico) da inesquecível cena do concurso de Little Miss Sunshine. Aqui, também há uma situação de dança, como um ritual de passagem, em que os protagonistas muito amadores enfrentam dançarinos profissionais. E no momento crucial, o filme dececiona e falha redondamente.
Aquele querido mês de agosto é um filme português de longa-metragem de Miguel Gomes. Híbrido de documentário e ficção, é uma docuficção. Pelo seu conteúdo antropológico, caracteriza-se também como etnoficção.
Após a aclamação internacional de "Tabu", eleito por inúmeras publicações internacionais como um dos melhores filmes de 2012, a edição do anterior filme de Miguel Gomes no mercado norte-americano é agora destacada pela revista "New Yorker " que o elege como DVD da semana.
Hitchcock é, provavelmente, o diretor que mais consistentemente legou imagens memoráveis à Sétima Arte
Volver
O filme fala de duas irmãs, Raimunda e Sole, que retornam à casa da família depois que um incêndio fatal mata os pais. Mais tarde, em um outro reencontro, as irmãs conversam com a Tia Paula, já muito doente e um tanto ensandecida, que jura que é a mãe delas quem cuida da casa e dela mesma. A história absurda é desconsiderada e as irmãs voltam ao que seria vida normal.
Penélope Cruz é Raimunda. Um dia, chega em casa e encontra a filha Paula paralisada: vítima de abuso sexual, Paula se protege matando o pai a facadas. Mãe protetora que é, Raimunda toma as rédeas da situação e decide dar um jeito no corpo do marido. Nesta mesma noite, sua tia também havia falecido. Sole vai ao enterro sozinha e lá se encontra com o fantasma da sua mãe, interpretado por Carmem Maura. Ou melhor: o fantasma da mãe, Irene, é que se encontra com ela, fugindo escondido no porta-malas do carro.
O 16º longa-metragem de Almodóvar é, na verdade e novamente, sobre mulheres: três gerações de uma mesma família do interior da Espanha. Irene é a mãe que precisa ser perdoada pela filha Raimunda. Esta é jovem, trabalhadora, forte e amorosa. Sole, também filha de Irene, foi deixada pelo marido, tem medo de mortos e possui um salão de cabeleireiro clandestino. E Paula, a mais nova de todas, aprende com as parentas como é ser uma daquelas mulheres.
Volver, como o próprio nome anuncia, é um retorno ao que de melhor o diretor e roteirista sabe fazer: falar sobre mulheres. Almodóvar assumiu que o longa trata muito sobre ele mesmo, e, por isso, volta à região onde nasceu, à infância e ao universo feminino. é um filme de atrizes, segundo o diretor, e sem elas, o filme não existiria: “Minha vocação é ser o primeiro espectador delas”, afirma.
O filme não é fantasioso, não é escrachado nem melodramático. Além das mulheres, o filme é sobre a morte e como ela pode ser natural para muitos povos,
As Paixões de Julia/Adorável Julia
Julia Lambert (Annette Bening) é uma bela e talentosa actriz
de teatro em final de carreira na Londres dos anos 30. Os seus papéis,
histórias de amor e animadas comédias sociais, são grandes sucessos, fazendo de
Julia uma das mais amadas actrizes do seu tempo. Mas, no teatro, como na vida,
as aparências são muitas vezes enganadoras. Júlia atravessa uma crise de
meia-idade e tanto o seu sucesso profissional como o seu casamento com Michael
Gosselyn (Jeremy Irons) - marido liberal, produtor e seu agente - tornaram-se
banais e insatisfatórios.
É então que conhece Tom Fennell (Shaun Evans), um belo e charmoso jovem americano que se apresenta como o seu maior fã. Julia acaba por render-se às suas atenções e vê-se inesperadamente envolvida numa apaixonada relação. A vida torna-se então mais ousada e excitante para Julia e as suas "performances" voltam a incendiar os palcos, até que o seu novo amor a relega para segundo plano. Depois de desfrutar do seu dinheiro e das suas relações sociais, Tom dirige agora a sua atenção para Avice Crichton (Lucy Punch) - uma jovem actriz à procura de uma oportunidade no mundo do teatro. Este irá servir-se de Julia para que Avice progrida na sua carreira.
É então que conhece Tom Fennell (Shaun Evans), um belo e charmoso jovem americano que se apresenta como o seu maior fã. Julia acaba por render-se às suas atenções e vê-se inesperadamente envolvida numa apaixonada relação. A vida torna-se então mais ousada e excitante para Julia e as suas "performances" voltam a incendiar os palcos, até que o seu novo amor a relega para segundo plano. Depois de desfrutar do seu dinheiro e das suas relações sociais, Tom dirige agora a sua atenção para Avice Crichton (Lucy Punch) - uma jovem actriz à procura de uma oportunidade no mundo do teatro. Este irá servir-se de Julia para que Avice progrida na sua carreira.
AMOUR Pelas Ruas da Amargura
O filme passa-se num elegante apartamento parisiense, daqueles em que as poltronas já estão desbotadas e moldadas aos corpos dos donos. E os quadros não podem ser removidos porque deixariam inevitavelmente a marca da sua presença nas paredes, como uma sombra invertida. E livros amarelados nas estantes, discos manuseados, e um piano de cauda, disposto na zona mais luminosa da sala.
Não, o filme passa-se num laboratório, atrás de uma cortina de vidro, onde Michael Haneke disseca, com a frieza de um bisturi, com uma noção de ritmo absolutamente perfeita (arrastado como as passos dos atores octogenários), a crónica metódica das devastações e das injúrias da idade. E prega a prega, ruga a ruga, a meticulosa incisão de Haneke vai fazendo a vivissecção sombria das várias etapas da debilidade do envelhecimento: a paralisia, a demência, a incontinência, a afasia, as fraldas, a alimentação forçada e os cremes para as escaras na mesinha de cabeceira. E destas incisões não se derrama um pingo de sangue, não se solta uma lágrima, não se verte um mililitro de sentimentalismo. É a vida, é a morte.
Não, o filme passa-se num mausoléu egípcio. Dessas tumbas que estão seladas há séculos, mas que ainda mantém os pertences e sombras da vida passada, as joias, as estatuetas, os bálsamos, os gatos embalsamados. Porque os possuidores de todas estas materialidades já estão em estado imaterial, mumificados no seu imobilismo entaipado, com pele ressequida, mas mortos- embora ainda não o saibam.
Aliás, a primeira cena remove-nos qualquer suspense dramático, e logo transmite esta sensação tumular, e há uma baforada de ar fétido, que num desassombro se lança à cara de quem ousou quebrar o "descanso em paz", e removeu a lápide do jazigo. São os bombeiros a tapar o nariz, quando arrombam a porta do apartamento, e vem-lhes o cheiro a morte. E encontram uma velha mulher, lívidez de cadáver, numa cama, com uma aura de flores dispostas como uma natureza morta.
A mesma mulher que veremos após o genérico, com o marido, na plateia de um recital de piano. Schubert. Haneke tem o cuidado de nunca enquadrar o pianista. Apenas o público. Porque o que vamos ver a seguir é um filme sobre a tragédia da condição humana. A tragédia de nos sabermos mortais. O realizador austríaco, que com Amor, bisa a Palma de Ouro em Cannes (depois de Laço Branco, 2010), e conquista os galardões máximos dos Prémios de Cinema Europeu, e constará muito provavelmente na listagem de melhores filmes estrangeiros nos óscares (e talvez até noutras categorias), dirige a câmara para onde normalmente os nossos olhares costumam ser desviados. Especialista em emoções extremadas, nas origens ocultas de uma violência que germina no subsolo como raízes insidiosas, costuma dizer que os seus filmes são mais fáceis de realizar do que de assistir. Amor, é particularmente duro. Porque não há culpas, a quem se possa atribuir, por estas indignidades do envelhecimento. As ignomínias de se ir perdendo as capacidades físicas e cognitivas. O ultraje de se envelhecer lentamente - como uma tortura vagarosa. E isso dói. E é a última palavra, que num desempenho dilacerante, a atriz Emmanuelle Riva ( a adolescente de Hiroshima, Meu Amor, de Alain Resnais, 1959, agora com 85 anos) pronuncia : dói. Mesmo tendo uma vida confortável, sem problemas assistenciais, sem a solidão gélida de um hospital, sem os falsos consolos de uma qualquer religião, dói imenso. E o marido, Jean-Louis Trintignant, assiste, gradualmente, etapa a etapa, aos últimos laivos de vida da mulher, como se estivessem a ser engolidos pelo buracos de um ralo. No fim de um casamento voltam a ser só dois, como no princípio. Não há nada de romântico em viver com quem se ama até ao fim dos seus dias. Só agonia e dor.
Como em todos os filmes de Haneke, há sempre um acontecimento disruptivo que não é nada, ou pode não ser nada, mas que sempre nos abre uma pequena, e muito subtil, fresta para a inquietação. Depois do recital, o idoso casal, mas intelectualmente requintados e melómanos - e é interessante esta vizinhança entre a música tão sublime e a decadência tão humilhante- dirige-se para casa de autocarro (são as únicas duas cenas passadas fora do apartamento ou do mausoléu - como se quiser). Quando tentam entrar em casa apercebem-se que a fechadura foi forçada. O episódio não tem qualquer sequência no filme, há conversas sobre contactar o serralheiro, mas pouco mais, um detalhe aparentemente sem relevância. Como se isso fosse possível em Haneke, um maníaco-meticuloso, que estuda as suas cenas e guiões até ao mais ínfimo pormenor, acusado de fazer dos atores marionetas e levá-los a fazer exactamente o que pretende, até se lhes arrepiarem os nervos. Quem forçara a porta nessa noite era a morte, mas só no final do filme fazemos o rewind do sucedido e disso nos damos conta.
Segue-se uma ligeira inquietude nocturna, mas também não é nada. Nunca é nada, mas afinal é. Durante o pequen-almoço, o casal retoma os seus rituais de sempre, e por uns momentos, a face da mulher fica cristalizada no tempo, sem nada ver ou ouvir, cara serena e inerte, como uma máscara mortuária. A perplexidade do marido, que abre a torneira da cozinha, tenta passar-lhe um guardanapo molhado pela testa, mas nada a resgata desta evasão de si própria. O homem vai pelo corredor, talvez telefonar, pedir ajuda. Mas o ruído da água a correr cessa (todo o filme está preenchido com pequenos ruídos, excepto quando entra a música que eles próprios, professores de música controlam). Quando o marido volta à cozinha, a mulher regressara ao seu estado normal, queixa-se de que ele deixou a torneira aberta. Tivera um pequeno AVC e começa aqui o descarrilar da dignidade humana. Segue-se uma paralisação de um dos lados do corpo, a cadeira de rodas, a cama articulada, os cuidados das enfermeiras ao domicílio que lhe fazem a higiene pessoal. E, como já tinha feito em Laço Branco, em que filma de uma forma muito pouco mística o cadáver de uma camponesa, da cintura para baixo, Haneke foca a lástima de um corpo flácido de velha mulher, na banheira: "dói!".
Talvez a prova de amor deste marido seja o oposto do que Haneke nos força, algo sadicamente, a assistir. Ele poupa a mulher a todos os olhares devassos, que testemunhem a sua diminuição. Ele tenta evitar que a própria filha (Isabelle Huppert) assista ao espectáculo da decadência da mãe. Vai cerrando sobre ambos a lápide do túmulo. Todos são intrusos - excepto um inofensivo casal de porteiros de origem portuguesa (a mulher é Rita Blaco, ver caixa). Até o pombo que inadvertidamente lhe entra pela janela, como os pombos costumam fazer nos edifícios que já não são habitados - outro acontecimento aparentemente irrelevante à Haneke, outro prenúncio de morte. E este out-sider alado passeia-se pela divisão, sem mostrar temor, com a desenvoltura de quem já tem a legitimidade de ocupar aquele espaço. Há conflitos com a filha, há conflitos com a enfermeira, mas o grande conflito é, na realidade com a morte. E se nos restantes filmes de Haneke, este retrata a violência de um passado culposo ( Código Desconhecido, 2000), ou da explosão da ira e da xenofobia (Nada a Esconder, 2005), ou da auto-agressão nos recantos mais sórdidos da intimidade de cada um (A Pianista, 2001), ou a mais niilista e desonerada das tiranias (Funny Games, 1997 e 2007), ou a prepotência e brutalidade sádica infligida às crianças, um prefácio do nazismo, que há de ser devolvido á sociedade nos anos 30, e portanto não se pergunte Warum? ( Laço Branco), em Amor a violência chega da natureza humana contra nós próprios. E ainda assim, mesmo não havendo hipótese de redenção e caterse nesta tragédia humana, nós continuamos a questionar Warum? Ou Pourquoi? Há muitos filmes sobre o envelhecimento, mas nenhum tão honestamente assustador, sem arestas suavizadoras, sobre o processo de declínio em curso. Sobre a violência de algo que não podemos ver. Nem conter. É gritante, é brutal. É a morte, é a vida.
COMO ÁGUA PARA CHOCOLATE

O desenrolar da história se dá a partir do romance proibido entre Tita e Pedro, um jovem do povoado. Por ser a filha mais nova, Tita é destinada a passar a vida cuidando de sua mãe. Assim, é negada a ela a possibilidade de casar-se ou dedicar-se a outra atividade.
O destino imposto a Tita a conduz a uma profunda tristeza, que seria intensificada com o casamento de Pedro com sua irmã mais velha, Rosaura. Pedro aceita esse casamento - naquele lugar, assim como em outros tantos povoados rurais, casamento era entendido como negócio de família - por entendê-lo como única possibilidade de ficar mais perto de sua amada, enquanto Tita, sem compreender bem a decisão de Pedro, mergulha num "mar de tristezas", por entender que perdera de uma vez por todas o grande amor de sua vida.
Diante disso, é na comida preparada por Tita que se manifestam e são transmitidos os sentimentos, angústias e desejos que ela traz contidos, devido ao amor proibido que sente por Pedro. Isso ocorre já no casamento. Ao preparar o bolo do casamento, tomada por profundo sentimento de tristeza, Tita se põe a chorar, deixando cair suas lágrimas sobre a massa do bolo. A profunda tristeza de Tita, transmitida para a massa do bolo, causaria ânsia de vómito nos convidados. Já em outra ocasião, o prato de codornizes ao molho de pétalas de rosa, preparado com as flores que Tita ganhara de Pedro, transmitiria a quem o ingerisse a sensualidade e volúpia daquela paixão...Moral da história, durante décadas o filho/a mais velho tinha de tomar conta dos país e da família limitando assim a sua liberdade...
Guia para um final Feliz
David O' Russel tem um percurso curioso- e até interessante. Pena ser em sentido descendente, embora nem nesta comédia romântica desça abaixo do nível de água. A um filme de guerra híbrido e frenético (o extraordinário Três Reis, 1999), seguiu-se o The Fighter (com um daqueles papéis inesquecíveis de Christian Bale - que lhe valeu um óscar-, e uma excelente caracterização de personagens) e agora aparece num registo mais levezinho, mas não imersível, ao juntar como par romântico Bradley Cooper (conhecido pelas sucessivas Ressacas) e Jennifer Lawrence (umas das mais jovens atrizes a ser nomeada, por Winter' s Bone, em 2011). Ao casal junta-se o grande Robert De Niro que, ultimamente, se tem especializado em papéis irrisórios, de pai e sogro. Os diálogos são bons e o registo "sad-comic" dos atores funciona (a maior surpresa é Cooper), a par com uma das músicas mais kitsh, em versão Stevie Wonder, que ganha aqui também um acento cómico (Ma Cherie Amour), mesmo num guião resvaladiço, e até previsível. O facto de as personagens terem "um parafuso a menos", ou "não jogarem com o baralho todo" (utilizando as expressões da gíria), tanto os que estão no manicómico, como os que estão fora, confere-lhes estranhamente um estatuto de normalidade - ou não será tão estranho quanto isso, enfim... Há uma espécie de disputa de loucuras, um atira com o seu distúrbio obsessivo-compulsivo, o outro joga com a bipolaridade, outra com um trauma ninfomaníaco, e vários outros com stress, manias, ataques de nervos... Todo o desenrolar do filme conflui para uma situação climática, que podia ter a mesma força (um embaraço muito divertido e catártico) da inesquecível cena do concurso de Little Miss Sunshine. Aqui, também há uma situação de dança, como um ritual de passagem, em que os protagonistas muito amadores enfrentam dançarinos profissionais. E no momento crucial, o filme dececiona e falha redondamente.
Aquele querido mês de Agosto
Aquele querido mês de agosto é um filme português de longa-metragem de Miguel Gomes. Híbrido de documentário e ficção, é uma docuficção. Pelo seu conteúdo antropológico, caracteriza-se também como etnoficção.
Realizado em 2008, "Aquele Querido Mês de Agosto" apresenta em paralelo uma história ficcional ocorrida em Portugal no pico do verão e as hesitações, dificuldades e deambulações da equipa de cinema enquanto levavam a cabo a rodagem.
A publicação norte-americana diz que a obra funciona como um bom complemento de "Tabu", para se perceber a audácia do realizador português.
Após a aclamação internacional de "Tabu", eleito por inúmeras publicações internacionais como um dos melhores filmes de 2012, a edição do anterior filme de Miguel Gomes no mercado norte-americano é agora destacada pela revista "New Yorker " que o elege como DVD da semana.
"Flutuando entre a ficção e o documentário, entre a
comédia e o drama, entre o passado e presente, o filme tem algo de uma
escavação livre da memória, que mostra ser um fator decisivo na vida
quotidiana", refere a apresentação do filme feita pela "New Yorker" com o
respetivo trailer.
TABU é uma história passada um pouco antes da Guerra Colonial Portuguesa. É um filme sobre a passagem do tempo, acerca das coisas que desaparecem e que só podem existir como memória, fantasmagórica, imaginário.
"Ele (Miguel Gomes) tem apenas 40 anos, e é um dos
melhores do mundo, o mais original dos cineastas. Estou extremamente
ansioso para ver o que fará a seguir", refere o texto do crítico da "New
Yorker" Richard Brody,
Paris, Texas
Este filme destaca-se excelente pelos seus enquadramentos e pela trilha sonora um solo de guitarra de Ry Cooder, e, que só por isso vale a pena rever este filme.
Paris, Texas conta a história de Travis, um homem que , depois de estar desaparecido por vários anos e reencontrado pelo seu irmão Walt num hospital na região desértica do Texas Walt leva-o para sua casa em L.A, onde reencontra Hunter, seu filho de sete anos que foi abandonado pela sua mãe. Travis e Hunter iniciam uma reaproximação culminando numa grande amizade e no desejo secreto de reencontrar Jane e assim reconstruir a sua verdadeira família.
O filme tem como titulo o nome de uma cidade do Texas, chamada Paris, mas não foi filmado ali.
Paris, Texas é notavel pelos seus enquadramentos. A primeira cena começa com o ponto de vista de um passaro sobre o deserto, uma paisagem austera, seca e alienígena. As cenas passam por velhos quadros de aviso com propagandas, cartazes, gaffites, carcaças oxidadas de ferro, velhas linhas de comboio, cartazes de néons, moteis, estradas que nunca terminam(...). Este olhar estrangeiro de Wim Wenders não é mais que uma releitura do velho Este que ele provavelmente conheceu através dos filmes de John Ford. Nesta nova America de Wim Wonders não há arranha-céus. Os planos abertos aqui diferentes dos Westerns que reforçam a ideia da aventura e desconhecido definem a solidão, a fragilidade das relações humanas, o individuo reduzido a apenas mais um elemento na paisagem da grande cidade.
O tema central do filme é a alienação social na America. Outro tema é a dos pais usarem as crianças como pretexto para manter uma relação.
AMÁLIA RODRIGUES O FILME
Hoje faz 15 anos que a DIVA nos deixou e a RTP1 em homenagem exibiu o filme: "Amália Rodrigues O filme"
RTP.exibe o filme Amália Rodrigues "O filme". no dia em q faz 15 anos q faleceu. O filme faz-nos crer q a fadista levado uma vida trágica e assombrada, mas n é verdade. Amália (Sandra barata Belo) tentou suicidar-se por 4 vezes ao longo do filme, sendo sempre assombrada por um homem de chapéu que vai aparecendo durante todo o filme, e sempre q Amália o vê, vê tb o ano de 1988. O filme acaba por não explicar esta relação. .Amália é representada como uma mulher mal amada, amores mal resolvidos, moderna demais pra o seu tempo e viciada em tabaco. A mãe q finge não gostar dela, a irmã asmática q morre em tenra idade, Durante todo o filme é com Celeste que Amália mantem um elo mais forte acabando por envelhecerem juntas. A família que só a vê pelo dinheiro. No amor, primeiro, entrega-se a um guitarrista com quem casa forçada por ela. Quando já tinha carreira e divorciada mantem uma relação secreta com um menino rico Eduardo q a esconde por esta pertencer ao povo. Entretanto um homem rico Ricardo mas casado persegue-a pelos continentes, ela resiste-lhe por este ser casado. Qdo decide corresponder ao seu amor a abandonando a relação secreta com (Eduardo) acaba por encontrar Ricardo morto no hospital. farta da solidão e do desespero aceita o pedido de César, um brasileiro corista (Ricardo Carriço, no filme)... Para além do ridículo sotaque brasileiro de Ricardo Carriço, temos o sotaque dos pais e da irmã de Amália a ridicularizar o sotaque do Norte. Este aspecto poderia ser evitado no meu entender. Outro aspecto q poderia ser evitado foi a caracterização de Amália quando velha em alguma cenas parece um travesti. Foi pena em não terem investido em planos que a favorecessem mais. bem como aquele que aparece em palco após o 25 de Abril. Outra cena também um pouco forçada é quando Amália é abordada no mercado (Brasil) por uma muçulmana gravida dizendo-lhe q irá por o seu nome a sua filha, uma metáfora pra Amália voltar a cantar. Depois de ler a sua biografia n fiquei com esta ideia de uma Amélia depressiva e obcecada pela morte como o filme nos faz crer. Não quero com isto dizer q o filme foi uma desilusão, pelo contrario. Ainda bem que no final do filme aparece, o filme baseia-se na vida de Amália de (forma livre).
O segredo de BrokeBack Mountain
Verão de 1963. Jack Twist (Jake Gyllenhaal) e Ennis Del Mar (Heath Ledger), jovens à procura de serviço temporário, acabam sendo contratados por um fazendeiro para cuidar de um rebanho na montanha Brokeback. Enquanto Jack aspira à profissão de cowboy e trabalha no local pelo segundo ano seguido, Ennis é estreante e pretende se casar assim que retornar. Vivendo isolados por semanas, eles se tornam cada vez mais amigos e iniciam um relacionamento amoroso. Ao término do verão, cada um constrói o futuro separadamente, mas o período vivido ali irá marcá-los de forma inesperada. Através do premiado roteiro adaptado, Brokeback Mountain nos transmite a capacidade do acaso de mudar o curso de nossas vidas. No longa, a carência financeira e a de independência se encarregaram de provocar a união dos protagonistas e, consequentemente, o início de um auto-conhecimento determinante em suas respectivas trajetórias.
Os laços emocionais firmados entre Jack e Ennis são bastante críveis, pois há todo um cuidado de Ang Lee para que o espectador perceba a intensidade e a variedade dos sentimentos. Não se trata apenas de paixão, há o companheirismo mútuo, o bem-querer e a saudade, retratada num posterior reencontro entre os jovens. Ao longo do filme é perceptível um silencio que fala.
Sem a tradicional abordagem densa dentro da temática, a história não mantém o foco no ambiente repressor e religioso, apesar de usar referências. O destaque aqui é a desmistificação da fragilidade dos homossexuais: eles podem ser valentões e machistas, bem como ávidos chefes de família.
Taxi Drive
Citado por críticos, diretores de cinema e público em geral como um dos maiores filmes do cinema dos Estados Unidos, a obra é aclamada por sua performance forte e realismo gritante. O filme levou os atores Robert de Niro e Jodie Foster à fama e reconhecimento; Foster estava com apenas 14 anos durante as filmagens. Bernard Herrmann, conhecido por seu trabalho com Alfred Hitchcock, foi o responsável pela trilha sonora, que acabou sendo a última antes de sua morte.
Nomeado a quatro categorias do Oscar, incluindo Melhor Filme, ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes de 1976.
Travis Bickle (De Niro) é um jovem de 26 anos frustrado e alienado do meio-oeste dos Estados Unidos, que alega ter sido recentemente dispensado do Corpo de Fuzileiros Navais. Ele sofre de insônia e consequentemente arranja um emprego como taxista na cidade de Nova Iorque,
oferecendo-se para trabalhar no turno da madrugada. Travis passa o seu
tempo livre assistindo a filmes pornográficos em cinemas imundos,
dirigindo-se sem rumo pela periferia de Manhattan. Também observa Nova York de seu táxi e irrompe com violência contra o que julga ser a escória que contamina a cidade.
Travis é incomodado pelo que considera o declínio moral a seu redor, e quando Iris (Foster), uma prostituta
de 12 anos de idade, entra no seu táxi certa noite para fugir de um
cafetão, Travis torna-se obcecado em salvá-la, apesar da completa falta
de interesse da jovem pela ideia. Ela explica que estava drogada quando
tentou fugir e que o cafetão, Sport, é na verdade uma pessoa gentil e
prestável.
Travis é também obcecado por Betsy (Shepherd), que trabalha no comitê
eleitoral do senador Palantine, candidato à presidência, cuja campanha
promete mudanças sociais drásticas. Ela inicialmente fica intrigada com
Travis e, identificando-se com sua própria solidão, concorda em sair com
ele. No encontro, entretanto, Travis leva-a a ver um filme pornô, e ela
o abandona, perturbada.
Um filme Falado
A mais
recente obra de Manoel de Oliveira pode parecer uma defesa da civilização
branca e ocidental. Mas é possível chegar à conclusão
oposta. O filme alerta para a necessidade de que a ação seja
orientada pela sabedoria da fala. Seja ela ocidental ou oriental.
O filme
descreve um cruzeiro marítimo de Rosa Maria (Leonor Silveira) e
sua filha, a menina Maria Joana (Filipa de Almeida), por cidades do Mar
Mediterrâneo. Além de mãe, Rosa também é
historiadora. O que possibilita que também o espectador aprenda
através dos lugares históricos por que passam as personagens.
Além disso, muitas das perguntas da menina Joana são daquelas
que nos esquecemos de nos fazer mais vezes: O que são lendas? O
que é mito? O que é contemporâneo? O recurso também
é uma forma de nos provocar e transmitir o recado do diretor. O
problema é que o recado corre o risco de ser mal interpretado. Vejamos
porque.
O início
do filme, por exemplo, passa pelo perigo de ser considerado uma defesa
da visão européia de mundo. O nevoeiro que dificulta avistar
os monumentos no porto de Lisboa simboliza o desaparecimento no passado
das glórias de um Portugal imperial. Muitos podem enxergar na cena
a saudade dos antigos navegadores portugueses. Aqueles que mais do que
descobrir terras distantes, abriram caminho para os massacres de quem nelas
vivia pelos europeus.
Essa idéia
também está perigosamente combinada com a cena da leitura
da placa, em Marselha. Trata-se de uma placa fixada no chão, assinalando
a chegada dos gregos à cidade, sete séculos Antes de Cristo.
As palavras gravadas afirmam que a vinda dos gregos é a inauguração
da própria civilização por aquelas paragens e ponto
de partida de sua difusão pela Europa. Parece a tese hoje bastante
combatida de que fora e antes da civilização ocidental há
um vazio. Na melhor das hipóteses, habitado por bárbaros.
Aprendendo com pessoas
normais e atravessando idiomas
Essa impressão
fica mais moderada quando a viagem estende-se até o Egito, o que
desloca a viagem para o continente africano, ainda que continue perto do
berço mediterrânico da sociedade ocidental. É nesta
cena também que Rosa explica a Joana que trabalho escravo foi utilizado
na construção das enormes pirâmides. E que, portanto,
as maravilhas ali presentes custaram vidas humanas. E que a civilização
é assim mesmo, contraditória e cheia de erros. Essa consideração
melhora a situação do filme. O passeio por Istambul também
ajuda, quando a mãe explica à filha que os muçulmanos
têm o direito a sua religião, tal como os cristãos.
Outro
aspecto do filme é a recuperação da idéia da
viagem como momento de conhecer pessoas e outras tradições
e não apenas ruínas, monumentos e curiosidades.
Mais uma
vantagem da professora é seu domínio do inglês e do
francês. Isso também lhe dá a chance saber o que ignora
com pessoas normais, como o pescador em Marselha, o padre ortodoxo na Grécia
e o ator português no Egito. Sem isso, o viajante fica como a pequena
Joana, excluída de algumas conversas. Aliás, é como
ficaria o público de muitos lugares do mundo se o filme não
trouxesse legendas. Até do Brasil.
Pode parecer
exagero, mas há um razoável distanciamento entre o português
de vogais fechadas e consoantes ásperas dos lusitanos e o modo brasileiro
de falar. Influenciados pelos indígenas e negros, expandimos as
vogais e suavizamos as consoantes. Essa situação dá
ao filme de Manoel de Oliveira um sabor diferente para nós, que
falamos português do lado de cá do oceano. É o que
ocorre, por exemplo, na tradução da frase "o vulcão
deitou lava e cinzas", mais literária, pela forma mais técnica
presente em "o vulcão expeliu lava...".
Esquemas não
dão conta da riqueza simbólica das línguas
A sucessão
de paisagens dá lugar a um debate travado durante um jantar no restaurante
do navio. Envolvidos nele estão o comandante da embarcação
(John Malkovich) e três senhoras. Uma é italiana (Stefania
Sandrelli), outra é grega (Irene Papas) e a terceira é francesa
(Catherine Deneuve). O capitão é norte-americano, como calha
a quem representa a nação que dirige o mundo. Falando cada
um em sua língua natal, eles se entendem perfeitamente. Discutem
amor, profissões, sonhos, frustrações etc. A conversa
é inteligente e delicada, já que é dominada por mulheres
cultas e européias.
O momento
que nos interessa é aquele em que Maria e sua filha juntam-se ao
grupo, convidadas pelo capitão. Desta vez, as mulheres poliglotas
admitem não falarr o português. A cena tem como
objetivo mostrar a marginalização de Portugal em relação
ao restante da Europa.
O incidente
leva Helena, a senhora grega, a lamentar a situação de sua
língua natal, fazendo uma comparação com o idioma
português. Esta última é falada pelos que dominaram
o mundo nos séculos 16 e 17, diz ela, tal como os gregos o fizeram
na Antiguidade. Mas, a língua lusitana está presente em vários
continentes, ao passo que o uso do grego ficou restrito a sua terra de
origem. No entanto, Helena consola-se com o fato de que palavras de seu
idioma estão presentes em praticamente todas as línguas ocidentais.
Esta conclusão
alegra a todos, mas também serve para nos lembrar que a língua
e outras esferas da vida cultural são muito mais ricas e dinâmicas
do que querem alguns esquemas. Não há uma relação
mecânica entre a economia, por exemplo, e a criação
simbólica presente na linguagem. É verdade que o inglês
impera porque impera a dominação anglo-americana no planeta
há uns 200 anos. No entanto, nos próprios Estados Unidos,
já surgiu o "spanglish". Uma mistura entre espanhol e inglês
que apareceu devido à enorme presença dos hispânicos
em território ianque. O fenômeno já está assustando
os conservadores norte-americanos. Um deles chegou até escrever
um livro, preocupado com a corrupção dos valores ianques
por elementos culturais que lhes seriam estranhos. Trata-se de "Quem Somos:
Desafios à Identidade Nacional Americana", de Samuel P. Huntington.
É a força-de-trabalho barata e superexplorada vinda dos sul
que se vinga de seus exploradores "contaminando" sua poderosa língua.
A ação
sem palavras é bruta e cega
Voltando
ao filme, seu trágico final corre o perigo de provocar uma leitura
equivocada das intenções do diretor. Há o risco de
que a destruição do navio apareça como mais uma ação
bárbara contra os "civilizados". Uma condenação do
fanatismo oriental, incapaz de reconhecer o saber e a moralidade superiores
do Ocidente.
PSICOSE
Hitchcock é, provavelmente, o diretor que mais consistentemente legou imagens memoráveis à Sétima Arte
Mas, provavelmente, é Psicose
que se tornou, ao longo do tempo, sinônimo do “cinema de Hithcock” e o
filme pelo qual ele é mais lembrado, seja você um cinéfilo ou não. E, de
fato, apesar de Psicose não ser sua melhor obra – na verdade,
ela tem um defeito grave que abordarei mais adiante – é inegável o
quanto essa fita é marcante e inesquecível. Seja a assustadora sequência
do chuveiro (que foi filmada ao longo de três dias, contém mais de 50
cortes e o sangue é de chocolate), a revelação do chocante segredo de
Norman Bates, o design marcante e inconfundível da casa do psicopata (baseada na pintura The House by the Railroad,
de Edward Hopper), a atuação inimitável de Anthony Perkins (que não tem
nenhuma relação física com o personagem do livro que deu base ao
filme), a trilha sonora arrebatadora de Bernard Herrmann (que
originalmente não seria usada na cena do chuveiro) ou a fotografia
aterradora de John L. Russell (que era para ser colorida, em princípio),
tudo funciona como um bem afinada sinfonia em Psicose, ainda um dos melhores filmes de suspense já feitos e certamente o melhor do sub-gênero serial killer.
E Psicose quase não se tornou
um filme. Era o final da década de 50, o famigerado Código de Produção
estava ruindo e Hitchcock estava preso por uma obrigação contratual de
fazer mais um filme para a Paramount. Sua secretária Peggy Robertson
lera uma crítica positiva do recém-lançado Psicose, livro de
Robert Block ficcionalizando a vida do assassino Ed Gain, e decidiu
levá-lo ao seu chefe, que ficou encantado. A Paramount vetou o livro
pelo seu conteúdo pesado e por considerá-lo “infilmável”. A produtora
queria uma de suas opções mais “fáceis” como a adaptação de No Bail for the Judge e o diretor estava um tanto desacreditado depois do relativo fracasso de Um Corpo Que Cai
(a produção anterior de Hitchcock para a Paramount). Mas Hitchcock não
se acovardou e pagou para ver, sugerindo à produtora bancar o filme
integralmente, sem ganhar salário, usando a equipe de produção de seu
programa de TV Alfred Hitchcock Presents, com filmagens no Universal Studios. A Paramount teria que prometer apenas distribuir o filme. E assim foi feito.
Com orçamento baixo – menos do que um
milhão de dólares, valor irrisório mesmo para a época – e filmando em
preto-e-branco como parte da economia orçamentária, Hitchcock conseguiu
um feito de fazer inveja, tomando de assalto os espectadores da época
que, em uma estratégia que copiou do lançamento de As Diabólicas,
de Henri-Georges Clouzot, cinco anos antes, foram proibidos por
Hitchcock de entrar nos cinemas depois de iniciada a projeção. Mantendo
tudo em mais absoluto mistério – algo que, hoje, é irritantemente
impossível, pela mania das produtoras em revelar e dos fãs em saber tudo
sobre o filme antes do lançamento – Psicose foi um sucesso
absoluto, que terminou por destruir o Código de Produção e que, segundo
muitos críticos e estudiosos, abriu o caminho, para o bem ou para o mal,
para uma longa era de filmes mais gráficos e violentos, com conteúdo
sexual, era essa que, devo dizer, parece não ter acabado ainda.
Em termos de história, Psicose
é, literalmente um divisor de águas, pois, na verdade, o espectador é
brindado com não um, mas dois filmes bem diferentes. O primeiro deles
tem como estrela Janet Leigh, vivendo a secretária Marion Crane. Nós a
vemos, de sutiã, na cama com seu namorado em uma cena risqué
para a época e que foi extremamente debatida pelos censores ainda
apegados ao Código de Produção. Os dois não têm dinheiro para casar e
Marion, então, de uma hora para outra, decide furtar 40 mil dólares de
seu chefe e foge de Phoenix, no Arizona, dirigindo.
Hitchcock nos faz acompanhar, em
detalhes, a fuga de Marion, aproximando-nos da personagem com uma câmera
próxima de seu rosto, em médio plano e close-up. Nós nos tornamos
cúmplices da moça e passamos a sofrer por ela, simpatizando com seus
atos. Sua saga continua quando ela é acordada por um policial depois de
passar a noite dormindo no carro na beira da estrada. Em seguida, ela
decide se livrar do carro e uma inquieta negociação de compra e venda
acontece, novamente com o policial à espreita. Marion sente o mundo
fechar à sua volta e nós sentimos junto com ela. A jornada continua e
Marion, na chuva, se desvia da estrada e para em um motel – sim, o Bates
Motel – para passar a noite, pois, além de cansada e de não enxergar
nada com o temporal, ela tem dúvidas sobre o ato que cometeu e começa a
repensar o furto. Ela é, então, atendida por um atencioso rapaz, Norman
(Anthony Perkins), dono do motel, e que mora com sua mãe em um casa
próxima, que a coloca no primeiro quarto, próximo ao lobby.
Marion vai, então, tomar banho. Ela parece querer se limpar da sujeira
que cometeu. Há um subtexto de arrependimento, da limpeza trazida pela
água.
E é, nesse ponto, que Hitchcock puxa nosso tapete e apresenta o maior plot twist
de todos os tempos, com uma senhora – presumivelmente a mãe ciumenta de
Norman – assassinando Marion impiedosamente, a facadas, em uma daquelas
sequências que, uma vez vista, jamais será esquecida, com a trilha
sonora de Herrmann, carregada de cordas e muita, mas muita tensão (ao
ponto dos créditos de Herrmann no filme serem logo anteriores aos de
Hitchcock!), nos desesperando. A plateia da época deve ter ficado
desnorteada pela surpresa e completamente confusa com um fato simples
que pode ser resumido a uma pergunta: a protagonista morreu e agora?
Psicose seria o thriller
de assassino perfeito e uma das maiores obras da Sétima Arte não fosse
seu final. E não estou falando, aqui, da resolução da trama do
assassinato de Marion. Isso acontece sem falhas, com um roteiro redondo,
atuações brilhantes, direção precisa e trilha sonora assustadora. Falo,
na verdade, dos três minutos finais em que Hitchcock não se furta em
apresentar aos espectadores uma explicação detalhada, mas extremamente
artificial e, em última análise, desnecessária, sobre a insanidade de
Norman Bates. Ele está preso em uma cela, mas um psiquiatra forense
entra na sala do delegado e, falando para Lila e Sam, explica tudo o que
o espectador já sabe. Nada é deixado para dúvidas ou para discussões.
Norman Bates é descortinado, desnudado em uma versão for dummies de toda a sensacional obra que veio imediatamente antes.
Considero esse final algum tipo de
delírio de Hitchcock. Ou, talvez, extrema insegurança por ter investido
seu dinheiro na produção que havia sido deixada de lado pela Paramount e
que teve até sua distribuição sabotada. Mas o fato é que o final está
lá, infelizmente, um exemplo de amadorismo em uma obra que, de outra
forma, seria de se aplaudir de pé. Ok, talvez essa afirmação seja um
exagero, mas reparem como toda a sequência destoa completamente do que
veio antes. Há relativamente poucos diálogos no filme e toda a
explicação que precisamos já foi precisamente mostrada por Hitchcock nas
sequências que se passam dentro da “mansão mal-assombrada” de Bates. A
repetição cansa e chama os espectadores de idiotas quase que
literalmente.
Esplendor na Relva
"Tão pouco se pode falar de um filme que só se deve contemplar, de um filme que é um dos mais belos jamais feitos.
Da
extraordinária perfeição da realização de Kazan, ao cuidado exacto de
cada plano, à densidade comovente das interpretações de Natalie e
Warren, ao dramatismo arrebatador do argumento de Inge, ao uso simbólico
dos elementos naturais e físicos como caracterizadores da acção, à
própria identificação pessoal que sentimos com aquelas personagens
presas na sua sociedade repressiva, à magnífica fotografia e à música
que o compõem, até às origens literárias do filme e àquelas que
originou, tudo se conjuga em Esplendor na Relva, criando um dos mais
importantes filmes de sempre, lírico, marcante de uma geração,
intemporal, inimitável. E o que é Esplendor na Relva? Tudo e nada. Uma
história de repressão sexual?, de um relacionamento impossível?, da
própria tragicidade do amor? Haverá nas entrelinhas uma pontada de
crítica à sociedade norte-americana, desprovida de afetos e de amor? Há
isto tudo e, ao mesmo tempo, nada disto.
Afinal, o que importa
definir o indefinível, quando o que importa é ver? Ver e aprender que
encontraremos a força no que ficou para trás…"
Moulin Rouge
A história se passa em 1889 e gira em torno de um jovem poeta, Christian, que desafia a autoridade do pai ao se mudar para Montmatre, em Paris, considerado um lugar amoral, boêmio e onde todos são viciados em absinto. Lá, ele é acolhido por Toulouse-Lautrec e seus amigos, cujas vidas são centradas em Moulin Rouge, um salão de dança, um clube noturno e um bordel (mas cheio de glamour) de sexo, drogas e eletricidade e - o que é ainda mais chocante - de cancan. É então que Christian se apaixona pela mais bela cortesã do Moulin Rouge, Satine.
O enredo do filme é essencialmente inspirado em três óperas/operetas: La bohème de, Giacomo Puccini La traviata de Giuseppe Verdi, e Orphée aux enfers de Jacques Offenbach (esta inspirada no mito grego antigo de Orfeu e Eurídice). é um cabaré tradicional, construído no ano de 1889 por Josep Oller, que já era proprietário anteriormente do Paris Olympia. Situado na zona de Pigalle no Boulevard de Clichy, ao pé de Montamartre em Paris, França. É famoso pela inclusão no terraço do seu edifício de um grande moinho vermelho. O Moulin Rouge é um símbolo emblemático da noite parisiense, e tem uma rica história ligada à boémia da cidade.
Há mais de cem anos que o Moulin Rouge é lugar de "visita obrigatória" para muitos turistas.
O Moulin Rouge continua a oferecer na actualidade uma grande variedade
de espectáculos para todos aqueles que querem evocar o ambiente boémio
da Belle Époque
e que ainda está presente no interior da sala de espetáculos. Não
obstante, o estilo e o nome do Moulin Rouge de Paris foram imitados por
muitos clubes de variedades e salas de espetáculos em todo o mundo.
O Paciente Inglês
O fato é que O Paciente Inglês sempre foi um projeto
muito caro e de muita classe, exigindo assim um orçamento relativamente
alto para uma proposta que provavelmente não seria tão bem aceita pelo
grande público - em outras palavras, um belo elefante branco. E mesmo
que tenha conseguido atingir seus objetivos com relação aos prêmios que
ganhou e ao sucesso artístico que alcançou, hoje ele é injustamente
menosprezado pela grande maioria. Mas se analisado individualmente e
fora do seu contexto histórico, podemos afirmar que se trata de um dos
filmes mais belos de todos os tempos, principalmente se lembrarmos do
fato de ser a primeira grande produção de Minghella como cineasta, que
apresenta tanta maturidade e bom gosto, dando até para entender a
associação que muitos fizeram entre ele e Lawrence da Arábia.
Como todo bom romance de guerra, O Paciente Inglês
conta com uma história de amor proibido durante algum conflito
internacional – no caso, a Segunda Guerra Mundial. Em meio aos conflitos
dessa época, a enfermeira Hana (Juliette Binoche) se refugia em um
monastério abandonado na Itália, para cuidar exclusivamente do homem
desfigurado por queimaduras causadas em um acidente de avião; o tal
paciente inglês. Enquanto o homem tenta recuperar a memória e lembrar
quem é, Hana também abriga no local um soldado indiano, pelo qual se
apaixona. Ao mesmo tempo em que se sente confusa diante do sentimento
inesperado que começa a surgir em seu coração pelo soldado, Hana passa
horas ouvindo seu paciente contar sobre sua história de amor proibido
com uma mulher casada (vivida por Kristin Scott Thomas), durante uma
excursão de aristocratas pelo deserto do Saara.
Beleza Americana
Um mundo de aparências, de simulações e
de simulacros. Um tema tão pós-moderno dentro de uma narrativa clássica
e, quem diria, americana. E não apenas americana, mas sob a égide de Beleza Americana. Sam Mendes cria a transcendência de uma vida morta no personagem de Lester (Kevin Spacey),
que, sendo não um narrador-defunto, mas um defunto-narrador, analisa
sua vida defunta e como ele, minutos antes do momento de sua morte,
consegue atingir o ápice de sua vida.
Sua vida de autômato é ornamentada por
uma família que segue os moldes americanos (leia-se ocidentais). Sua
mulher, Carolyn, encarnada por Annette Bening, é uma
corretora de imóveis que parece ter sido originada do cruzamento de
comerciais de eletrodomésticos do Polishop dos anos 90 com a histeria de
vilãs de novelas mexicanas. No entanto, ela parece encaixar
perfeitamente na trama, devido a manipulação que ela – e quase todos –
sofrem pela mídia e pela psicologia de farmácia. Jane (Thora Birch)
é a filha adolescente que é a estranha da escola e tem complexos com o
próprio corpo. Essas linhas iniciais já nos indicam o interior da
fachada dessa tríade pai-mãe-filha: falta de comunicação.
A construção dos personagens é
orquestrada de forma orgânica, mesmo que eles sejam, por vezes,
caricatos ou alegóricos. A caricatura, aqui, é peça fundamental à
coerência da composição de simulacros que formam nossa sociedade. A mãe
de Ricky Fitts (Wes Bentley), Barbara (Allison Janney)
por exemplo, é um desenho feito em poucas linhas de uma mulher apática e
sem vida, totalmente submissa ao seu marido autoritário, o coronal
Frank Fitts (Chris Cooper). Os personagens de Carolyn e
Barbara Fitts não causam um estranhamento em relação às suas
inverossimilhanças. Talvez porque haja pessoas tão inverossímeis na vida
real, talvez por termos em nossas mentes a percepção de uma sociedade
que é o que vê na televisão.
O grande mote do filme é a beleza que há
na vida, e como nós não a percebemos. As vendas que impedem os
personagens de verem a beleza que há no mundo são mantidas em todos os
personagens, exceto em Lester e em Jane – e o único que entende o mundo é
Ricky. No entanto, a primeira centelha que atinge o protagonista de
modo a se propor uma mudança de vida é Angela (Mena Suvari),
a amiga de sua filha. Ela se mostra ao mundo como uma garota sensual,
muito segura de si e que sabe como lidar com o assédio masculino. No
entanto, Ricky, ao se encantar por Jane, acaba por mostrar que Angela
usa Jane como companhia para se sentir melhor sobre sua amiga “sombra”,
ordinária. Nessa trama, portanto, temos um fator interessante: a ponta
do iceberg que mudará a vida de Lester é tão falso e mascarado quanto
todas as outras pessoas que o cercam – e que ele a vê como especial até o
fim.
Ricky Fitts é um personagem chave no
filme. Um garoto bizarro à primeira vista que se mostra como o único
normal e verdadeiro. Ele chega à vizinhança e se aproxima,
primeiramente, de Jane. Depois, conhece Lester. Suas atitudes
surpreendem os dois personagem de modo que eles saiam da cegueira
social. Ricky é como o olho do autor do roteiro: ele vê aquilo o que
merece ser visto e aponta aos cegos – e aos espectadores – a beleza que
perdemos por aí. Sua câmera é diferente, sua realidade não é a câmera do
filme (o que é um grande ponto na escolha da fotografia). Seu olho,
após que Lester morre, fita os olhos de Lester. Ele vê que sua morte foi
feliz e que, finalmente, ele havia compreendido e internalizado a
percepção da beleza. Lester, como narrador, reitera a visão de Ricky no
belo desfecho que segue a visão do instante final da sua morte ao
continuar “até o infinito, como um oceano de tempo”.
O modo com a qual a música é usada
merece um olhar à parte. Logo na apresentação da família americana, há
timbres de instrumentos orientais, nos dando um olhar exótico a Lester,
Carolyn e Jane. Já nos delírios de Lester (ao pensar em Angela), a
música é sempre mística, tribal, quase ritualística, como se ele devesse
ser iniciado por uma deusa no seu verdadeiro percurso da vida. No
entanto, ao finalmente estar a sós com Angela, a música vem do aparelho
de som da sua sala. A música: “Don’t Let It Bring You Down”,
interpretada pela voz melancólica de Annie Lennox. Ao tornar a música
diegética (com uma fonte inerente à narrativa), e realista (Angela está
triste por ter sido confrontada por Ricky e Jane), a atmosfera é
completamente distinta – quase como se a realidade de Lester não fosse
tão boa quanto seus devaneios. O uso de “Because” (escrita por John
Lennon e Paul McCartney) no fim faz o espectador que mergulha no filme
se confrontar com a grande mensagem da história – a eterna questão do
sentido de viver, como ela é bela e como somos ínfimos ante ela.
Beleza Americana estuda
antropologicamente do bicho homem ocidental americanizado. O filme nos
olha como objetos científicos humanizados, com suas distâncias e
estranhamento naturais. Ao mesmo tempo, ele trata de aproximar o
exotismo dessa nossa sociedade à suposta esquisitice de viver
verticalmente a vida. Trata-se de um estudo incrível e que, se abrirmos
bem os olhos à sua mensagem, ele pode mudar vidas – sem nenhum exagero.
Estado de Guerra
Os Americanos invadiram o Iraque, em
2003, sendo esta a primeira guerra do século XXI e a segunda invasão
americana ao Iraque. Uma invasão sem qualquer razão de existir,
destroçando um país inteiro, matando muitos inocentes. Desde então, em
oito anos, já foram feitos vários filmes sobre a guerra do Iraque, cada
um com a sua visão. Kathryn Bigelow realiza uma nova versão, com «Estado de Guerra»,
em 2008. Os americanos sempre gostaram de fazer filmes “pipoqueiros”
sobre as suas guerras, para mostrar ao seu povo e ao mundo o seu poder e
ideais “democráticos”. Muitos destes filmes não tem qualquer qualidade
cinematográfica. «Estado de Guerra» é uma excepção, pela sua dura
realidade que Kathryn passa para as imagens.
A história passa-se durante a guerra do Iraque. James (Jeremy Renner),
é chamado para integrar uma equipa altamente treinada em
desmantelamento de bombas. James põe a sua vida em risco e as dos seus
companheiros, Sanborn (Anthony Mackie) e Eldridge (Brian Geraghty), com
os seus atos de heroísmo que advém do seu profissionalismo único. James é
um louco e apaixonado da guerra, comportando-se como se fosse
indiferente à morte, no meio da destruição e do caos total. A
personalidade de James irá mudar para sempre os seus companheiros.
Grande parte deste género de filmes,
apresentam uma visão do exército americano como os salvadores, os
hérois. Neste filme, não acontece nem uma coisa nem outra. Kathryn não
diz que os Americanos são os heróis, mas também não diz que são os
invasores. Essa ideia não fica muito clara no filme, sendo que peca
bastante nesse aspeto. O filme centra-se mais nos soldados que
desarmavam as bombas colocadas pelos terroristas, em locais públicos da
cidade.
Gritos e Sussuros
Poucos
diretores imprimem sua marca e transformam seus filmes em obras de arte.
Trabalhos capazes de tocam a quem assiste de maneira tão profunda e
irreversível que alteram sua percepção da própria vida. Ingmar Bergman é um
desses exemplos. Suas obras estão repletas de poesia e são de extrema
complexidade. Mas não fuja. Assistir os filmes de Bergman é uma experiência
pessoal, única e uma oportunidade para conhecer intimamente o diretor.
O
que atrai em sua obra é o modo como Bergman trabalha com temáticas delicadas e
de forte carga existencial: a solidão, a religião (resultado de sua criação
religiosa), a morte, o erotismo com toda sua violência e impotência, a
racionalidade mesclada nos mais diversos absurdos. Na atualidade, seus filmes causam
estranheza e são por vezes difíceis de compreender - e ainda permanecem
extremamente atuais.
É a única seqüência em que o sangue aparece neste filme. Nunca há sangue no
personagem de Agnes, a irmã que morre, não há sequer sangue na seqüência em que
o marido de Maria se tenta suicidar, cravando uma faca no corpo. Este filme de
corpos e palavras, este filme de grandes planos, este filme de sons de grande
plano, ou, muito mais simplesmente, este filme de Gritos e Sussurros,
é um filme em que o horror se inscreve no vazio, na profundidade de campo
desses planos geniais em que as três irmãs se movem ou se imobilizam na casa da
sua infância, reunidas ali, muitos anos depois, pela agonia e morte de Agnes.
Mas se o sangue jorra só do corpo de Karin, o décor é sempre
encarnado (a tal imagem que obcecava Bergman), e de uma seqüência a outra, seja
no tempo presente, seja para os regressos ao passado (que aqui dificilmente se
podem chamar flashback) é em encarnado que a imagem dissolve, como
se diz em linguagem cinematográfica, ou se solve como me parece que aqui se
pode dizer. “Desde criança, sempre imaginei o interior da alma como uma
membrana úmida, tingida de encarnado” disse Bergman como única explicação. E
talvez o seja. Mas esse encarnado, cor da púrpura e da pompa, é aqui também cor
de luto e do passado, cor do que perdemos e nunca mais podemos recuperar. Quem
quiser, pode também pensar que é a cor do inferno.
De qualquer forma, esse encarnado é o fundo e a forma deste filme e é dele que
nos vêm essas quatro mulheres, vestidas de branco ou de preto, de cores
sombrias ou cores claríssimas, para, diversamente, nos mostrarem as suas
diversas lágrimas e os seus diversos suspiros. E vêm nesses grandes planos
tácteis, que são o segredo do último Bergman. Só a título de exemplo refiro a
seqüência do reencontro entre Maria e o médico (seu antigo amante) e a
descrição pormenorizada que faz da cara dela. Nunca atriz nenhuma, como essa
genial Liv Ullmann, se deixou despir assim diante de uma câmera, sem tirar uma
peça de roupa e sempre em grande plano. Um microscópio a atravessa e esse
microscópio é tanto a imóvel câmara como as palavras meigamente terríveis ou
terrivelmente meigas ditas por Erland Joseph
A vida de Claire, procuradora do Ministério Público, e de Ray e Jess, agentes do FBI, é abalada quando descobrem que a filha de Jess é a última vítima do assassino em série que perseguiam havia meses. Apesar dos esforços de todos, o culpado nunca é encontrado e o caso é arquivado. Treze anos após o sucedido, Ray encontra uma pista que pode finalmente desvendar o crime. Mas o tempo alterou muita coisa e, apesar de habituados a lidar com o pior da Humanidade, não podiam imaginar o terrível segredo que estava por detrás deste crime hediondo.
Em 2010, valeu ao realizador argentino Juan José Campanella o Óscar para Melhor Filme Estrangeiro, um filme sobre o amor e o desejo de vingança que conta com argumento e realização de Billy Ray

O segredo dos teus olhos
A vida de Claire, procuradora do Ministério Público, e de Ray e Jess, agentes do FBI, é abalada quando descobrem que a filha de Jess é a última vítima do assassino em série que perseguiam havia meses. Apesar dos esforços de todos, o culpado nunca é encontrado e o caso é arquivado. Treze anos após o sucedido, Ray encontra uma pista que pode finalmente desvendar o crime. Mas o tempo alterou muita coisa e, apesar de habituados a lidar com o pior da Humanidade, não podiam imaginar o terrível segredo que estava por detrás deste crime hediondo.
Em 2010, valeu ao realizador argentino Juan José Campanella o Óscar para Melhor Filme Estrangeiro, um filme sobre o amor e o desejo de vingança que conta com argumento e realização de Billy Ray
Fúria de Viver/Juventude Transviada (no Brasil)

É em “Fúria de Viver” que Nicholas Ray revela o seu melhor estudo sobre o comportamento de adolescentes. “Fúria de Viver” é um dos mais emblemáticos filmes da era dourada do cinema americano, a década de 50. O ano de 1955 é um ano chave para o cinema americano, pela produção de grandes clássicos do cinema e por ser o ano de James Dean, que ficou famoso pelos três filmes, “A Leste do Paraíso”, “Fúria de Viver” e “Gigante”, todos feitos no ano da sua morte. Foi sem dúvida um ano agitado para o jovem ator, que ficou imortalizado pela personagem de Jim, em “A Fúria de Viver”, e pelas suas roupas, uma t-shirt branca, jeans e um blusão vermelho. Esta imagem tornou-se num símbolo de irreverência e rebeldia, que muitos jovens, de todo o mundo, passaram a usar.
O filme narra a história de três adolescentes delinquentes, Jim, Judy e Plato que têm em comum a solidão, frustração e raiva que resultam de descenderem de famílias desequilibradas. Jim (James Dean) sente-se “dividido” entre a mãe dominadora e o pai fraco, incapaz de dar ao filho o modelo de segurança de que este precisa. Judy (Natalie Wood) vive com o pai que não a compreende e sente que ele não gosta dela. Plato (Sal Mineo) é o mais fraco elemento do trio, que foi abandonado pelos pais divorciados, vive com a empregada. Os três acabam por se unir como uma família que se ama e protege, depois de várias peripécias, que incluem, lutas com facas, uma corrida de automóveis, em que os três participam na morte de outro jovem e um romance entre Jim e Judy.
Ao contrário do que acontece com muitos filmes sobre rebeldes adolescentes que foram feitos depois deste, este atribui a culpa aos pais e não aos adolescentes. Estas intrigas parecem-nos leves para os dias de hoje, mas para a altura foram bastante polémicas. Na década de 50, pós-guerra, os EUA viveram um período dourado, em que muitos jovens não precisavam de trabalhar muito cedo, pelo que optavam por frequentar as universidades, tornando-se bastante comum estudar na faculdade. Os jovens passam a ter menos responsabilidades e maior poder de compra, levando, mais tarde, à geração hippie, ao maio de 68 e ao Woodstock. Daí Nicholas Ray ter ido buscar atores jovens e quase inexperientes no cinema, Mineo tinha 16 anos, Wood tinha 17 anos e Dean tinha 24 anos, sendo o mais velho do trio. É curioso que estas três talentosos jovens morreram de forma violenta e anormal. Dean morreu num acidente de automóvel, Wood afogou-se e Mineo foi assassinado. Mortes precoces dos atores que fazem, de certa forma, ligação com as personagens deste filme.
Personagens solitárias, cheias de raiva, fúria de viver, pois ninguém as compreende. Esta solidão que advém do rompimento com um mundo que não lhes corresponde mais. Os adultos (pais, polícias e professores) egoístas e irresponsáveis não transmitem uma boa educação para os seus filhos e isso leva a atos desesperados por parte dos jovens. Jim tenta criar a sua família alternativa com Judy (a sua mulher) e Plato (o seu filho), baseada na compreensão mútua. Plato chega mesmo a dizer que gostava que Jim fosse seu pai e na cena do palácio, os três brincam como crianças que são, encenando que são um casal. A certa altura Jim e Judy deixam Plato, adormecido no chão, sozinho. Quando este acorda vê-se cercado por outros três jovens (um deles era o jovem ator Dennis Hopper) e desesperado usa a pistola que trazia no bolso. Foge da polícia, que entretanto chega, e esconde-se no planetário. Jim e Judy vão ao seu encontro e tentam acalmá-lo. A polícia cercou o edifício e Plato com medo tenta fugir, tornando o final do filme na cena mais comovente de todas. É com um final trágico e comovente que Ray nos mostra uma dura realidade ainda nos dias de hoje, mesmo passados mais de cinquenta anos.
“Fúria de Viver” era para ser inicialmente filmado a preto e branco, mas Ray conseguiu convencer a Warner fazê-lo a cores, transformando o filme com cores vibrantes e com tons expressionistas, que salientavam bem a agitação daqueles jovens. Este foi também o primeiro filme em CinemaScope de Ray, um formato que ele viria a usar bastante.
É de salientar ainda as soberbas interpretações do jovem elenco. James Dean tem aqui a sua melhor interpretação de sempre. Infelizmente esta foi a única parceria entre Dean e Ray. Wood e Mineo foram ambos nomeados para o Óscares de Melhor Interpretação Secundária e Nicholas Ray foi nomeado para o Óscar de Melhor Realizador.
O excelente elenco, argumento e realização dinâmica, tornaram este filme numa das melhores obras do cinema e num dos melhores estudos sobre a adolescência, tornando-se num filme intemporal. “Fúria de Viver” é uma obra obrigatória!
Mel/Miele
Miele (ou Mel, em português) marca a estreia de Valeria Golino na realização de longas-metragens. O suicídio assistido está no centro da questão, com todas as implicações morais que lhe estão adjacentes - uma adaptação livre do romance A nome tuo, de Mauro Covacich.
Irene (Jasmine Trinca) vive sozinha numa casa à beira-mar, perto de Roma. Sob o nome de código Miele, secretamente, ela ajuda doentes terminais a morrerem com dignidade, dando-lhes um barbitúrico poderoso. Um dia, Irene dá uma dessas doses mortais a um novo cliente, o Sr. Grimaldi (Carlo Cecchi). Contudo, ela descobre que ele está de perfeita saúde, mas quer suicidar-se, depois de ter perdido o interesse em viver. Determinada em não ser responsável por aquela morte, ela irá fazer de tudo para a impedir.
A temática é sensível e polémica, mas está lançada. A abordagem está extremamente bem conseguida, com todos os problemas de consciência aqui implícitos. Entre viagens, mortes assistidas e a sua própria vida privada, Irene vive um dia-a-dia agitado, onde a rotina não existe. Como Miele, ela age contra a lei, mas sempre de consciência tranquila, a fazer o que, para si, é certo. Contudo, ao cruzar-se com Grimaldi, Irene depara-se - mais tarde do que desejaria - com um caso diferente e que vai contra os seus princípios: um homem saudável que apenas quer morrer por estar farto da vida. Irene tem estabelecido que apenas ajuda a morrer pessoas que sofram de doenças terminais.
Ao longo do desenrolar da acção de Miele, desejamos saber mais sobre Irene. O que vamos conhecendo do seu passado é maioritariamente por flashbacks - pouco é aquilo que ela nos conta, ou conta a Grimaldi. Esse mistério envolvo na protagonista surge em paralelo com o seu anonimato como Miele, a mulher que ajuda os doentes a morrer, eles que nem o seu nome verdadeiro saberão. Irene perdeu a mãe muito jovem, por motivo de doença, mas nunca percebemos em que circunstâncias exactamente. Fácil é daí concluir que a jovem verá nessa morte que lhe foi tão próxima o motivo para realizar o trabalho que faz - que como a familiar de um doente lhe diz é um trabalho "de merda".
Para se libertar da dor que o trabalho e as memórias lhe trazem, Irene refugia-se no desporto e na Natureza. Desde nadar no mar, a passeios de bicicleta, ao simples sentar no meio de searas, são vários os momentos em que a tranquilidade e libertação que a protagonista sente passam para o espectador. É nestes momentos que Valeria Golino nos proporciona planos de extrema beleza, sempre tão dinâmicos como Irene.
Festim Diabólico
Festim Diabólico
[Rope, Alfred Hitchcock, 1948]
[Rope, Alfred Hitchcock, 1948]
A história, baseada em peça de teatro de 1929 escrita pelo dramaturgo e romancista britânico Patrick Hamilton, é simples, mas macabra: dois amigos matam um terceiro e colocam o corpo em um baú na sala de seu apartamento, que serve de mesa para um jantar ao qual convidam seu professor. O objetivo é provar que é sim possível cometer o “crime perfeito”.
Hitchcock decidiu manter a estrutura de “peça de teatro”, mas não fez teatro filmado, o que potencialmente teria tornado o filme extremamente enfadonho, apesar dos curtos 80 minutos de duração. Com toda a ação se passando quase em tempo real e apenas uma sequência – a de abertura, quando vemos o diretor em uma de suas famosas pontas – passada fora do apartamento de Brandon (John Dall) e Phillip (Farley Granger), Hitchcock trabalhou com enorme engenhosidade e com uma câmera inacreditavelmente fluida e movimentada, com close-ups (como no estrangulamento), planos americanos e planos médios, além de travellings quase que exclusivamente de um lado para o outro do apartamento em linha reta. Para conseguir esse feito, Hitchcock trabalhou em sincronia extrema com a equipe técnica para criar um cenário que pudesse ser movimentado durante as filmagens. As paredes, assim, foram montadas em cima de trilhos e era abertas e fechadas na medida do necessário, com ensaios que envolveram não só os atores, mas também as pessoas responsáveis por mexer em toda a estrutura. Além disso, o ciclorama (cenário de fundo) usado em Festim Diabólico foi o maior usado até 1948, além de um dos mais complexos, pois não só envolvia imagens de Nova Iorque, como nuvens, fumaça de chaminé, luzes e iluminação que se modificavam na medida em que o tempo passava. É um divertimento esquecer o resto do filme e só focar nesses aspectos técnicos.
E Festim Diabólico ainda foi o primeiro filme do diretor em Technicolor, o que, à época, significava câmeras ainda maiores, que tiveram que ser montadas em estruturas móveis silenciosas especiais, só para complicar a vida dos técnicos. Mas o resultado valeu a pena, apesar dos comentários negativos do próprio diretor. É absolutamente fascinante ver a história se desenrolar ao longo dos 80 minutos de projeção como se literalmente fôssemos o observador onipresente e onisciente.
James Stewart faz o papel do professor Rupert Cadell, convidado de honra para o jantar e quem os estudantes desafiam para descobrir o crime que cometeram. É a primeira da prolífica parceria de Stewart, que já tinha uma bagagem considerável, com Hitchcock e que geraria clássicos inesquecíveis como Janela Indiscreta, a segunda versão de O Homem que Sabia Demais e Um Corpo que Cai. Stewart demonstra muita tranquilidade em seu papel, atuando com sempre atua: passando uma naturalidade quase sobre-humana, que poucos atores eram (ou são) capazes de passar. Contracenando com um elenco menos conhecido, mas mesmo assim muito bom, ele acaba dominando toda a fita a partir do momento em que aparece.
É interessante, também, notar um subtexto que, em 1948, era um tabu quase intransponível: a homossexualidade. O filme é todo permeado do assunto e o restritivo – e absurdo – Código de Produção em vigor não pegou “o problema” em razão de um roteiro inteligente que foge da obviedade, de atuações contidas (os atores que fazem os dois assassinos eram gays) e de uma direção sábia de Hitchcock que escancara a situação, mas só para que souber ler nas entrelinhas. E o mais interessante é que esse aspecto da vida sexual dos personagens nem era essencial à narrativa, mas ele é deixado lá por um diretor bem a frente de seu tempo.
Festim Diabólico marca talvez o verdadeiro início de Hitchcock como o Mestre do Suspense, considerando-se seus filmes seguintes, e é uma pequena joia que só melhora ao longo do tempo e do quanto mais nós sabemos sobre sua interessantíssima produção.
Festim Diabólico (Rope, EUA – 1948)
Direção: Alfred Hitchcock
Roteiro: Arthur Laurents, Hume Cronyn (adaptação), Ben Hecht (não creditado), com base em peça homônima de Patrick Hamilton
Elenco: James Stewart, John Dall, Farley Granger, Joan Chandler, Sir Cedric Hardwicke, Constance Collier, Douglas Dick, Edith Evanson
Duração: 80 min.
Direção: Alfred Hitchcock
Roteiro: Arthur Laurents, Hume Cronyn (adaptação), Ben Hecht (não creditado), com base em peça homônima de Patrick Hamilton
Elenco: James Stewart, John Dall, Farley Granger, Joan Chandler, Sir Cedric Hardwicke, Constance Collier, Douglas Dick, Edith Evanson
Duração: 80 min.
Uma Mente Brilhante
Algo de muito relevante no filme é que é uma historia real que trata com verdade o universo de um transtornado. A esquizofrenia com certeza já estava em John Nash antes de ser diagnosticada, porém o diretor muito sutilmente vai dando os vestígios disso até o surpreendente ( para muitos) surto. O filme, além de magnifico, é informativo. Um esquizofrênico não é um deficiente mental, ou seja, não tem sua intelectualidade afetada. Agoniza com delírios e alucinações, tem crenças infundadas, porém não tem sua inteligência diminuída. Russel Crowe soube passar muito bem esse fato, também os tiques que muitos transtornados têm, mas sem estereótipo. E Jennifer Conelly? Aparentemente discreta, porém o pilar de Nash, sua estrutura para desenvolver uma vida em sociedade e profissional com aquela certeza de que alguém, alguém muito especial o entendia. Ela teve a força para interpretar uma personagem altamente angustiada com dignidade e esclarecimento. O fato de Nash ter ganho o prêmio Nobel é um reconhecimento que um transtorno não é destruidor de intelectualidade, mas um tormento que só os lutadores suportam por décadas a fio. E Russel Crowe soube transmitir com brilhantismo isso. E Jennifer Connely muito merecidamente ganhou o Oscar por ter talento para não cair no lugar comum do melodramatico.
Mentiras de Guuerra/Undergrond
Emir Kusturica é um ciniasta e cantor (Servio) tem banda com o mesmo nome, "Emir Kustirica & No Smoking Orqustra" entre o seus filmes mais conhechidos estão: A vida é um Milagre e Gato Preto Gato Branco. Participou também no filme 7 Dias em Havana onde também participa no filme realizado por 7 cinieastas.
Era ma vez um país… Era uma vez [um pedaço] da história do
século XX na Europa. Era uma vez um diretor de guerras e festas, de cenários
barrocos e realistas, de roteiros alegóricos sobre
História, política e sobre as muitas faces da humanidade. Era uma vez um lugar
de mentiras, uma fábrica de armas chamada Underground, um filme de Emir
Kusturica, diretor nascido em Sarajevo, capital da atual Bósnia e
Herzegovina, independente da Iugoslávia em 1992. O filme em questão, falado
em sérvio, alemão, francês, inglês e russo, é um apanhado plural das guerras e
das políticas da Europa Oriental nos extremos do século vinte, da explosão
da II Guerra Mundial em 1939 aos conflitos internos e de intervenção da
OTAN que marcaram a região no anos 1990 e que podem ser divididos em três
grandes categorias:
·
As guerras separatistas dentro
da República Socialista Federativa da Iugoslávia (1991 a 1995, de onde
saíram independentes Eslovênia, Croácia e Bósnia e Herzegovina);
·
As guerras de cunho étnico-político
envolvendo os albaneses (1996 a 2001, com destaque para os conflitos de Kosovo,
Sérvia e Macedônia);
·
As duas grandes ações da OTAN contra a
Sérvia, uma em entre 1995 e 1996 (Operação Força Deliberada) e outra em
1999 (Operação Forças Aliadas), na província e Kosovo.
Esse grande número
de movimentações bélicas na região balcânica (a mais instável do Velho
Continente) começou a dar os seus primeiros passos ainda nos anos 1980, após a
morte de Tito, político bastante influente e admirado não só pelos seus
compatriotas, mas pela comunidade internacional de diversos pontos da Guerra
Fria — em seu massivo velório, em 4/05/1980, estiveram Leonid
Brejnev, Margaret Thatcher, Indira Gandhi, Saddam
Hussein, Yasser Arafat, Fidel Castro e Nicolae Ceauşescu, isso
só para citar alguns (o nosso presidente, General Figueiredo, não pode ir, mas
mandou o Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, o General José Ferraz
da Rocha) — e sua situação se agravou após a queda a URSS em 1991. O roteiro
de Undergroundusa
especialmente essas mutações políticas e conflitos bélicos para montar um
quebra-cabeça ideológico e social de uma região inteira, mas o seu alcance pode
ser para todo um continente, ou para o mundo inteiro.
Como estamos
falando de um longa de Emir Kusturica, é importante ressaltar que o surrealismo
(reinterpretado pelo diretor) e as formas mais nonsenses de mostrar conflitos humanos são a base
do roteiro, como por exemplo, o cenário que dá título ao filme, o
Underground, local onde um grupo de pessoas é mantido acreditando que a II
Guerra ainda está acontecendo, mesmo 20 anos depois dela ter terminado. Nesse
sentido, o subtítulo brasileiro cai muitíssimo bem à fita: Mentiras de Guerra. Primeiro, porque o roteiro
trabalha as frequentes mentiras entre teoria e práxis, as mentiras que se conta
e que se articula em massa para que uma situação X seja bem aceita ou que um
líder X seja mantido no poder. Segundo, porque o filme foi lançado,
oficialmente, no dia 1º de abril de 1995, mais um dos caprichos irônicos de
Kusturica.
Acompanhando a
saga de mentiras de guerra e problemas étnicos e ideológicos, temos a
onipresente música de Goran Bregovic (que já tinha trabalhado com
Kusturica em Vida Cigana e Arizona Dream: Um Sonho Americano). O compositor toma
como base a música cigana dos Bálcãs, privilegiando a percussão e os
instrumentos de sopro do grupo dos metais, mas mistura ritmos e
melodias dos Cárpatos, do Cáucaso e dos Urais, criando temas e variações
que combinam com a diversidade de povos e posições políticas que o longa
aborda. Kusturica então usa a música como um contraponto quase independente,
como em um dueto desigual, onde as vozes se harmonizam mas criam, no ouvido de
qualquer um, sensações diferentes. A busca pela identidade e até o conflito entre
identidades são bem representados por esta faceta do filme, que muito nos
lembra a proposta musical que Federico Fellini tinha
para seus longas e a forma como Nino Rota representava essa proposta. Como se
não bastasse a riqueza das composições de Bregovic, temos ainda trechos da 9ª
Sinfonia de Dvorák; da 3ª Sinfonia de Saint-Saëns e a execução da
icônica Lili Marleen.
Kusturica levou
três anos para finalizar Underground por
completo, mas o resultado é simplesmente arrebatador. Sua predileção pelo
fingimento teatral das interpretações, o diálogo com as artes e a
metalinguagem, o desenho de produção caótico, a constante poesia no movimento
interno dos planos (até os bombardeios — especialmente o primeiro — são
líricos), a mistura de gêneros cinematográficos, a crítica social, os figurinos
anacrônicos, a fotografia pendendo para o tom sépia, o complemento do que o
diretor havia iniciado dez anos antes em Quando Papai Saiu em Viagem de Negócios, tudo está
aqui em Underground. As
quase três horas de filme são plenamente justificadas pela epopeia proposta
pelo enredo e o seu significado final é do mais absoluto cinismo, o tom correto
para por fim a uma jornada de guerra verdadeira, aquela que só é
guerra quando um irmão mata um outro irmão.
um filme que vale a pena ver pelo elenco e pela musica de Philip glass.
As Horas
A produção cinematográfica estadunidense intitulada As Horas foi dirigida por Stephen Daldry e lançada em 2001. O filme é baseado em um livro de mesmo nome do autor Michael Cunningham. O filme As Horas apresenta um dia na vida de três mulheres em três diferentes épocas que se unem através de um clássico da literatura mundial: o romance a Senhora Dalloway. A primeira mulher é a própria autora da obra, Virgínia Woolf (Nicole Kidman), que vive ao lado do marido num subúrbio londrinho nos anos 20. Laura Brown (Julianne Moore), uma dona de casa, esposa e mãe em Los Angeles dos anos 40, é a segunda mulher da trama e está lendo o romance de Woolf. A última, a editora Clarissa Vaughan (Meryl Streep), é uma mulher nova iorquina dos anos 2000 que tem o mesmo nome da protagonista da obra literária. Essas mulheres, porém, têm mais em comum do que apenas uma ligação forte com um livro. As três possuem experiências de depressão diferentes e relacionadas às suas épocas, mas que podem ser vistas como semelhantes, visto que nas três mulheres estão presentes muitos sentimentos e muitas sensações que se repetem, como a insatisfação e a frustração com a vida que levam. Além disso, há um sentimento de não-pertinência ao mundo cotidiano que prevê papéis bastante definidos para essas personagens aos quais é muito sofrido e até mesmo impossível ajustar-se. A posição da mulher na sociedade é bastante abordada no filme e, inclusive, pode ser vista como um fator desencadeante da depressão das personagens.
Vírginia Woolf é, nitidamente, a personagem mais perturbada pela depressão. Ela é a única que apresenta alucinações auditivas e a que possui mais dificuldades em relacionar-se com outras pessoas e em ser responsável por si mesma, visto que, devido às suas alucinações e a duas tentativas de suicídio, o marido possui rígido controle sobre as suas atividades e ela mantém relacionamentos com pouquíssimas pessoas. A escritora é prisioneira da sua doença e da forma como era realizado o tratamento em sua época, que privava as pessoas do convívio social e de uma rotina comum. Esse fator é bastante importante, pois a personagem fala sobre a angústia de ver-se privada de se responsabilizar por si e essa privação pode ser encarada como prejudicial à saúde de Virgínia que, a cada momento que passava afastada de Londres e sob a vigilância do marido e das recomendações dos médicos, sentia-se mais angustiada. É nessa situação que a época em que vive a personagem é mais importante, pois a forma como a doença psíquica era tratada nos anos 20 fez com que ela fosse isolada e se tornasse incapaz de tomar suas próprias decisões. No romance de Virgínia, Mrs. Dalloway, é possível perceber uma crítica aos métodos de dois médicos que aparecem no enredo. Septimus, um herói de guerra, é tratado por esses médicos e na cena em que aparecem a autora descreve as entrevistas clínicas e o tratamento indicado a Septimus de maneira crítica, deixando mais evidente a sua opinião sobre a medicina de sua época. Há sintomas bem característicos da depressão nos comportamentos de Virgínia como a lentidão de movimentos, a falta de apetite e a falta de autoestima, usando os cabelos desalinhados e roupas surradas.
Vírginia Woolf é, nitidamente, a personagem mais perturbada pela depressão. Ela é a única que apresenta alucinações auditivas e a que possui mais dificuldades em relacionar-se com outras pessoas e em ser responsável por si mesma, visto que, devido às suas alucinações e a duas tentativas de suicídio, o marido possui rígido controle sobre as suas atividades e ela mantém relacionamentos com pouquíssimas pessoas. A escritora é prisioneira da sua doença e da forma como era realizado o tratamento em sua época, que privava as pessoas do convívio social e de uma rotina comum. Esse fator é bastante importante, pois a personagem fala sobre a angústia de ver-se privada de se responsabilizar por si e essa privação pode ser encarada como prejudicial à saúde de Virgínia que, a cada momento que passava afastada de Londres e sob a vigilância do marido e das recomendações dos médicos, sentia-se mais angustiada. É nessa situação que a época em que vive a personagem é mais importante, pois a forma como a doença psíquica era tratada nos anos 20 fez com que ela fosse isolada e se tornasse incapaz de tomar suas próprias decisões. No romance de Virgínia, Mrs. Dalloway, é possível perceber uma crítica aos métodos de dois médicos que aparecem no enredo. Septimus, um herói de guerra, é tratado por esses médicos e na cena em que aparecem a autora descreve as entrevistas clínicas e o tratamento indicado a Septimus de maneira crítica, deixando mais evidente a sua opinião sobre a medicina de sua época. Há sintomas bem característicos da depressão nos comportamentos de Virgínia como a lentidão de movimentos, a falta de apetite e a falta de autoestima, usando os cabelos desalinhados e roupas surradas.
Em Laura Brown, a depressão fica evidente na ideia permanente de suicídio da personagem durante o filme e que a leva a um quarto de hotel com a bolsa cheia de remédios. Contudo, ela desiste de abandonar a vida que tem através da morte e resolve fazer isso deixando os filhos e o marido assim que o bebê que estava esperando nascesse. A época em que vive Laura é fundamental para a sua depressão, talvez até mais do que nas duas outras personagens, pois ela vive nos Estados Unidos dos anos 40, no auge do american way of life, é casada com um herói de guerra e é mãe, ou seja, a sua vida naquele momento era a vida perfeita, idealizada por todos: uma boa casa, um marido dedicado e filhos. Desse modo, como ela poderia se dar ao direito de não se sentir satisfeita e completa? É a partir dessa insatisfação com a vida que tem e com o papel de esposa e de mãe exemplar que deve ocupar que se manifestam os sintomas depressivos de Laura. Nessa personagem também é possível pensar na existência de um superego feroz e causador de angústia e de culpa que a impele a suicidar-se, além da regressão da libido. Os sintomas de Laura podem caracterizar um tipo de depressão chamado distimia, em que a pessoa funciona socialmente, mas não consegue sentir prazer nas suas atividades (Mackinnon & Michels, 1992). Em seus comportamentos de apatia e de desinteresse isso fica bastante claro. Assim como no esforço que precisa fazer para esboçar um sorriso e para mostrar-se feliz para o marido. Além disso, como Virgínia, ela apresenta falta de apetite e fuga da realidade através da leitura, enquanto que na romancista a fuga da realidade se dava a partir da escrita e das vozes que escutava que impediam a sua concentração, como a própria autora relata em sua carta de suicídio:
O papel da mulher no filme, As Horas
O ser mulher é algo extremamente importante nessa obra cinematográfica e isso não se deve apenas ao fato de as três protagonistas serem mulheres. Nas três histórias há a ocorrência de um beijo homossexual. Virgínia beija a irmã Vanessa (Miranda Richardson). Laura beija a amiga Kitty (Toni Collette). Clarissa beija a companheira Sally (Allison Janney). Esses beijos podem ser interpretados de diferentes formas, mas é evidente que têm importância na obra, que querem dizer algo a quem assiste a obra e que são outra forma de conectar as personagens. É possível pensar que os beijos estão relacionados às mulheres que as protagonistas são e às que elas gostariam de ser, levando em consideração às épocas as quais pertenciam e aos padrões femininos estabelecidos. O beijo entre Virgínia e sua irmã acontece quando as duas estão se despedindo, quando Vanessa está voltando para Londres. Nesse momento, ela está contando que precisa voltar para casa, pois dará um jantar naquela noite, também comenta algo sobre os filhos e está bem arrumada e penteada. Ou seja, retrata uma mulher dedicada aos filhos, a oferecer jantares aos amigos do marido, que cumpre seu papel de esposa e que se veste de forma adequada. Virgínia, por outro lado, não tem filhos, vive isolada no subúrbio devido a sua doença, não sente vontade de se arrumar e é uma preocupação constante para o marido. O beijo, portanto, pode ser uma representação da admiração que Virgínia sente pela irmã pelo fato de ela conseguir se adaptar ao padrão estabelecido para ela e ser feliz e, ainda, uma vontade de roubar-lhe a vida que a irmã tem. O beijo entre Laura e sua amiga ocorre quando Kitty vem visitá-la para contar que está com câncer. Por mais que seja uma notícia extremamente triste Kitty continua sorrindo. Ela fala que não tem do que reclamar, afinal, é casada com um herói de guerra que é um marido dedicado e que cuida dela...
Realizar o Impossivel
Realizar o Impossível
Frosty Hesson (Gerard Butler) e Jay Moriarty (Jonny Weston)
depois de mais uma aula de surf. Foto:
O filme que conta a
história verídica do jovem prodígio Jay Moriarity (Jonny Weston) e da sua
relação com Mavericks, a temível onda grande do norte da Califórnia que faz a
delícia dos surfistas de ondas grandes do planeta.
Orientado por Frosty
Hesson (Gerard Butler), o seu mentor e figura paternal, Jay descobre o
significado do acto de surfar ondas grandes e a dedicação que as surfar requer,
aprendendo preciosas lições de vida ao longo desse processo. Moriarity mostra-se
um jovem determinado e apaixonado, tal como era quando vivo, capaz de escapar às várias tentações
que Santa Cruz (e a vida), lhe apresenta, tudo tendo em vista um único
objectivo: surfar Mavericks. Resumindo, é a típica história que Hollywood adora
e cuja fórmula não se coíbe de repetir inúmeras vezes. De facto, Realizar o
Impossível assenta em premissas tão habituais como a do jovem rapaz, Jay, sem
pai, que desesperadamente procura uma figura paternal, Frosty, e que, quando a
encontra, com ela aprende várias lições de vida que, ultimamente, resultam no
cumprir do seu objectivo que, na história deste filme, é apanhar e surfar as
ondas de Mavericks. Pelo caminho, duro e revestido de obstáculos (chegar a
Monterey, uma remada de várias milhas), Jay passa pelos também habituais amores
(Kim, Leven Rambin) e rivalidades de liceu, figura maternal (Kristy Moriarity,
Elisabeth Shue) desleixada, sem esquecer a típica voz da consciência, encorpada
na mulher do seu mentor Frosty, Brenda Hesson, protagonizada por Abigail
Spencer, irmã do surfista profissional Sterling Spencer.
Critica
Em primeiro lugar, é
preciso realçar que por algum motivo Holywood usa sempre o mesmo fio condutor
nas suas histórias: elas resultam! Os filmes conseguem relativo sucesso e, pelo
caminho ainda inspiram uma ou outra pessoa. Mas lá está, este é um filme de
Hollywood - não é um filme de surf. O que nos leva ao segundo ponto: Realizar o
Impossível não é um filme de surf. Não vão com expectativa de encontrar surf
performance, vão, sim, com expectativa de encontrar uma história verídica
adaptada a uma fórmula. E as adaptações, como já dissemos em cima, têm
premissas comuns e, um dos pontos por onde o filme peca, talvez seja mesmo no
facto de passar a ideia de que poderia ser sobre qualquer outro desporto.
Aliás, fazendo um paralelismo merecido com Karaté Kid, este tinha porrada como
linha de apoio, Realizar o Impossível tem o surf. Ainda assim, Karaté Kid é um
filme que fica na memória. Quem não se lembra daquele último golpe de
Daniel-San, com o braços levantados e perna alçada? Todos nos lembramos. O que
nos leva ao terceiro ponto: o que fica na memória de um surfista após ver este
filme? Um considerável número de clichés, é certo, mas também uma fotografia
notável, com imagens verdadeiramente espectaculares de Mavericks e dos
destemidos que a surfam, de dentro e fora de água, incluindo uma vista de cima
graças ao uso de helicópteros. Os pequenos cameos de Peter Mel e Greg Long,
surfistas profissionais de ondas grandes, também ficam para a história como
demonstração da tentativa da equipa de produção do filme de credibilizar o
filme junto do seu core. De facto, nota-se uma preocupação em dar credibilidade
surfística ao filme e este seria impossível sem ela, mesmo sendo só uma
tentativa. A questão é que, os surfistas, são um público muito exigente e o
equilíbrio entre surf e mundo de fora, nos filmes hollywoodescos, é difícil de
alcançar e daí o ocasional cliché… Não deixa de ser importante realçar, também,
alguma confusão no argumento, confundido-se por vezes a história pessoal de Jay
Moriarty com a revelação ao Mundo da onda de Mavericks, duas coisas que,
cronologicamente, estão afastadas.
Realizar o Impossível
peca, então, onde os outros filmes sobre surf que o antecederam também pecaram
mas sai valorizado pelas suas imagens espectaculares (ainda mais bonitas quando
vistas em tela grande) e pela história pessoal de Jay Moriarity, uma história
que mesmo mostrada em formato Hollywood não deixa de conter mensagens de
determinação, dedicação e vontade que ainda hoje servem de inspiração e mantra
para a cidade de Santa Cruz e para os seus seguidores no surf de ondas grandes.
Chasing Mavericks (Realizar o Impossível), EUA
Michael Apted e Curtis Hanson
Vale Abrão
Existe um quarto lugar que importa mencionar, a Casa das Jacas. Este é o lugar em que se dá o ponto de viragem da história, em que Ema se apercebe que há outro mundo, diferente daquele que ela conhecera até então e mais esplendoroso. A Casa das Jacas é também esplendorosa.
Outros locais são referidos ao longo da acção. Um deles é a cidade de Lamego, por nela ter lugar um dos momentos incontornáveis da história, logo no primeiro capítulo. Tendo este facto em conta, poderá ser uma boa ideia sentarmo-nos num dos bancos do jardim da praça central de Lamego, ou numa das suas esplanadas – quem sabe se não teria sido naquela mesma que tudo se passou? - para calmamente ler este capítulo.Mas ao longo do romance assistimos à decadência física e moral de Ema, e das diferentes casas. A prosperidade e nobreza passadas da região, que no início da história ainda se adivinham, são gradualmente substituídas pela degradação e abandono, surgindo referências às recentes casas de emigrantes.
Este é um livro que, de resto, se deve ler com calma, no sossego, num remansoso sossego. Assim, um sítio de eleição poderá ser o alpendre, a sala de estar ou a reentrância da janela de uma das muitas casas de turismo rural da região. É interessante visitar a Quinta do Vesúvio, pois existe realmente e produz vinho. A própria obra faz referência à proprietária original, a que chama a Senhora, e que corresponde a D. Antónia Adelaide Ferreira, a Ferreirinha, grande senhora do Douro do século XIX, que aqui gostava de receber visitas.
Vale Abraão conta a história de Ema, personagem de Flaubert, transferida da Normandia do século XIX para o Douro do século XX. Foi escrito com o objectivo de servir de guião para o filme com o mesmo nome realizado por Manoel de Oliveira em 1993.
Nota, recomendo tb ler o livro que é mto bom.
Interstellar
Num futuro não muito distante, a Terra é um planeta devastado. Estudiosos de todas as áreas buscam mundos potencialmente habitáveis que possam evitar a extinção da Humanidade. A comunidade científica acredita que a solução pode estar nas pontes de Einstein-Rosen (ou "buracos de minhoca"), portais que possibilitam a ligação entre mundos paralelos, independentemente da distância entre eles. E é assim que uma equipa de exploradores espaciais é enviada na missão mais importante da História humana: entrar num desses portais e encontrar um mundo onde a vida possa prosseguir. Entre eles está Cooper, um engenheiro viúvo que tem de tomar uma decisão extraordinariamente difícil: embarcar nessa perigosa viagem ou ficar ao lado dos seus dois filhos. Um filme de ficção científica realizado por Christopher Nolan ("Memento", "Insónia", "O Cavaleiro das Trevas", "A Origem"), segundo um argumento de Jonathan Nolan, seu irmão. O elenco conta com a participação de Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Michael Caine, Matt Damon, Wes Bentley, Casey Affleck, David Gyasi, Mackenzie Foy e Topher Grace. Kip Thorne, um dos mais conceituados físicos da comunidade científica da actualidade, tem aqui o papel de consultor teórico do argumento.

O CAPITÃO
Corre o ano de 1945. Com a chegada dos Aliados, a guerra na Europa está a prestes chegar ao fim. Vários soldados alemães, conscientes da derrota, optam por desertar. Um deles é Willi Herold, de 19 anos. Na sua fuga, o rapaz depara-se com um automóvel abandonado onde encontra uma mala com um uniforme de capitão. Ao vesti-lo, assume a personagem que o representa, sentindo o poder e o estatuto que lhe estão inerentes. É então que, reunindo um grupo de desertores, inicia uma vaga de assassinatos e saques sem misericórdia por todos os lugares por onde passa…
Estreado no Festival de Cinema de Toronto, um filme biográfico quase totalmente a preto e branco, realizado pelo alemão Robert Schwentke (“Pânico a Bordo”, “A Mulher do Viajante no Tempo”, “Red: Perigosos”, “Insurgente”, “Da Série Divergente: Convergente”), sobre a verdadeira história de Willi Herold, um alemão julgado por crimes de guerra. Este filme é uma co-produção entre a Alfama Films de Paulo Branco, a alemã Filmgalerie 451 e a polaca Opus Film.































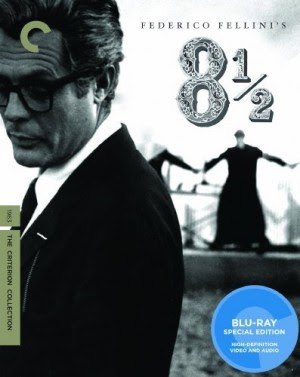


Nenhum comentário:
Postar um comentário